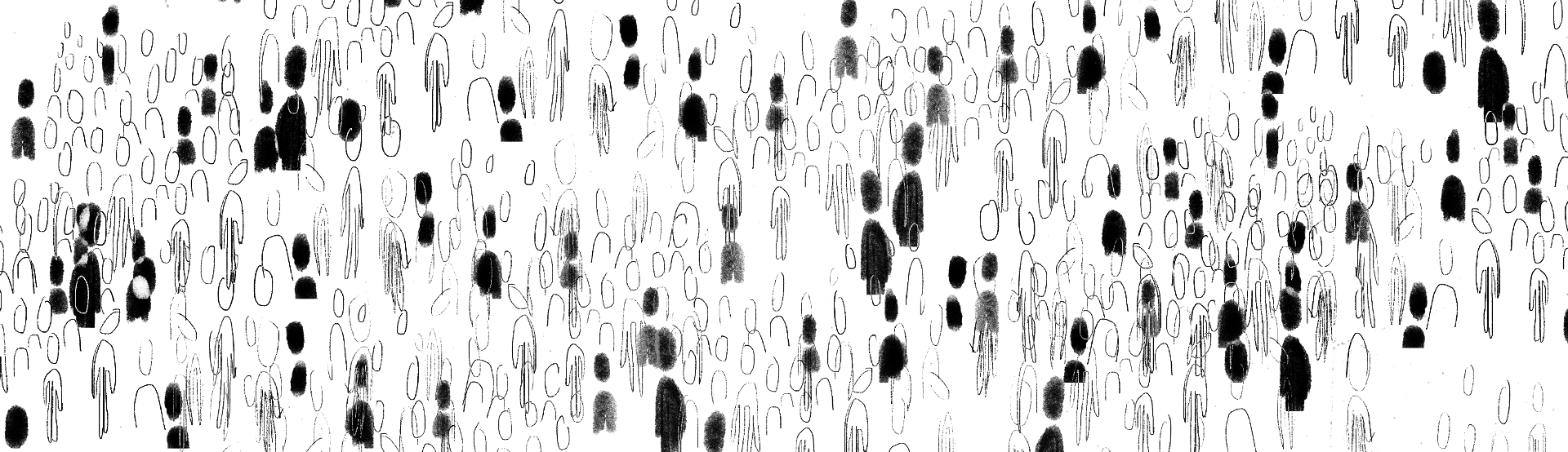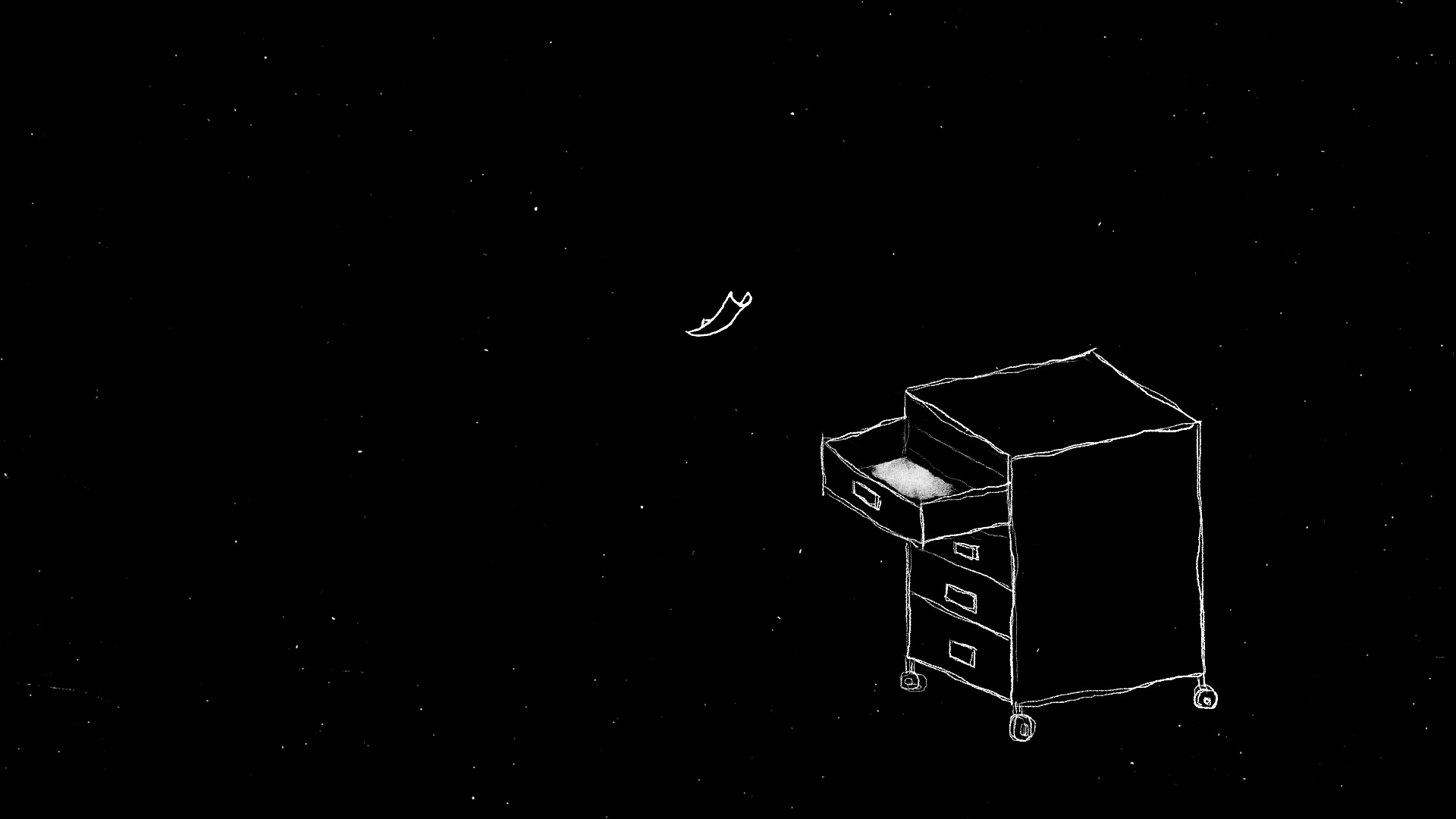Desassossego: Série Sobre Saúde e Doença Mental
Episódio 8/13
Serviços mínimos
22 Dezembro 2022
Ouve e segue o Fumaça
TRANSCRIÇÃO
Nuno Viegas: Olá, eu sou o Nuno Viegas. Encontrei 20 erros neste episódio do Fumaça. Depois de dois anos de investigação, meses de escrita, múltiplas edições em grupo – 20 erros.
O meu trabalho principal aqui foi esse. Para todos os episódios, peguei numas 30 páginas de guião, separei-as em mais de 300 frases e, depois, procurei fontes: documentos, entrevistas e relatórios para justificar cada uma delas. Uma a uma. E fiz isso para garantir que tudo o que vais ouvir seja uma narração ou uma entrevista. é leal, justo, e o mais factual que conseguimos apresentar.
Para apanhar os 20 erros deste episódio levei umas 50 horas, mais coisa menos coisa. Fui picuinhas, revi contas, reli estudos, defini adjetivos. Quando chegares ao último capítulo desta história, vais ter ouvido o resultado de mais de 400 horas de verificação de factos.
Não há tempo para fazer isto em todas as redações. Pagar-me o ordenado para garantir que o que aqui dizemos é verdadeiro custou ao Fumaça, contas por alto, quase 4 mil euros. É caro. Mas acreditamos que é nossa obrigação criar jornalismo cuidado, pensado e preciso. Para continuarmos a fazer bem, e não rápido, dependemos das doações de quem nos ouve – da tua doação. Se tu nos queres apoiar vai a fumaca.pt/contribuir e faz uma contribuição mensal recorrente.
E agora vamos fazer uma pausa e eu volto a apresentar-me para fazer a introdução habitual. é o outro trabalho para que me pagam nesta série.
–
Olá. Eu continuo a ser o Nuno Viegas. Estamos no oitavo episódio de Desassossego, uma série Fumaça sobre saúde e doença mental. Devias ouvir os episódios por ordem, já agora. Se este é o primeiro que encontras, volta atrás. Sugiro que oiças com auriculares ou auscultadores. Se quiseres ler a transcrição de tudo o que vais ouvir e um glossário com alguns termos mais específicos, está tudo em fumaca.pt.
Já me ouviste o suficiente. Vamos ao episódio. A narração é da Margarida David Cardoso.
I
João Madeira: Pronto, é isto, gostava de falar sobre a minha história. Nunca falei dela. Ou melhor, acho que nunca ninguém levou a sério este problema. E está na altura, se calhar, de alguém levar a sério e, sobretudo, se poder ajudar outras pessoas.
Margarida David Cardoso: Era uma quinta-feira de manhã, maio de 2020. Horas depois de enviarmos uma newsletter à procura de quem nos falasse sobre saúde e doença mental, João Madeira escrevia de volta. Ouviste-o no último episódio. Mas ficou por contar como é que só aos 40 anos João chegou ao diagnóstico pelo qual procurou metade da vida. No email daquela manhã, falava de um “percurso longo e (maioritariamente) funcional, com episódios de negligência e, felizmente, outros de redenção”.
Margarida David Cardoso: O que é querias dizer com isto?
João Madeira: Negligência porque… Negligência médica, porque fui medicado erradamente, mais do que uma vez. A dada altura, senti-me cobaia.
Margarida David Cardoso: A ver o que é que funcionava?
João Madeira: Sim. Já não sabes o que é que… Não é que tenha perdido alguma vez a noção da realidade, mas, quer dizer, a dada altura estás tão ou anestesiado, ou hiperexcitado, ou simplesmente, sei lá… A dada altura, sentes que , tipo, “Mas afinal eu sou o quê? Um rato de laboratório ou o que é que se passa aqui?” E ao mesmo tempo tens que lidar com a aceitação disso. Mas, em algumas situações, a meu ver, houve negligência ou falta de atenção.
Margarida David Cardoso: Depois daquele psiquiatra, amigo de família, que não cobrava pelas consultas, o acompanhamento tornou-se inconstante. Viu vários médicos. Teve diagnósticos de diferentes tipos de depressão. Passou por um processo longo de experimentação de psicofármacos, ao mesmo tempo que fazia psicoterapia. Mas nenhuma fórmula o fez alguma vez sentir que estava a ficar bem. Havia sempre um certo desarranjo. Até que há um momento limite. Uma nova medicação deixava-o num estado de excitação e de irritabilidade como nunca antes tinha sentido.
João Madeira: Por mais que eu seja uma pessoa impaciente e, pronto, um bocadinho intempestiva, aquilo não era normal, não era normal. E um dia, estava a conduzir, ia tendo um acidente, porque me passei no trânsito, de tal maneira que eu pensei “Um dia destes acabo contra uma parede ou contra um carro”. E, nesse dia, decidi: “Eu quero falar com outro médico. Eu não acredito que o que estou a tomar me está a fazer bem. Se calhar, nem acredito neste diagnóstico.”
O tratamento depende muito da relação que tu estabeleces com o médico. Mas o que acontece também quando as pessoas vão numa situação de grande fragilidade, a precisar muito de apoio e a sentir que não são capazes por elas de se ajudar o suficiente – mesmo que sejam muito racionais ou sejam muito críticas… Quando estás mesmo a precisar de ajuda, tu tendes a acreditar piamente na pessoa que tens à frente. Pronto, e isso aconteceu-me.
E só mais tarde é que me vim a aperceber de que tinha confiado na pessoa errada. Além dos erros cometidos com a medicação, acho que uma incompreensão generalizada em relação aos meus problemas. E falta de interesse e de investimento quando eu manifestava alguma preocupação ou uma questão. Ele nem sequer… Não problematizava, não aprofundava, as consultas eram altamente superficiais. Eu percebo que tenham que ser condicionadas pelo tempo, mas desagrada-me quando um médico olha várias vezes para o relógio ao longo da consulta quando tu estás a abrir a tua alma e a precisar de ajuda.
Margarida David Cardoso: João foi sempre seguido no privado. Foi um outro médico, recomendação da psicóloga que o acompanha, que, depois de várias consultas, e de um processo que diz “cuidadoso, lento e com uma indagação profunda”, lhe deu o diagnóstico de doença bipolar tipo II.
É uma forma menos severa da doença. Enquanto no tipo I a pessoa pode ter episódios de mania longos, no tipo II estes períodos de euforia não têm a mesma gravidade – têm até um nome diferente, são chamados de hipomania.
Com este novo diagnóstico, veio um novo tratamento. E as coisas mudaram completamente.
João Madeira: E, sobretudo, o que eu senti foi… Como é a melhor maneira de descrever isto? Eu acho que foi sentir os pés efetivamente no chão. Pela primeira vez, sentia que estava preso à realidade, e não a pairar sobre qualquer coisa num excesso de excitação ou numa sublimação emocional qualquer.
Margarida David Cardoso: Que estavas realmente a viver as coisas?
João Madeira: Que estava realmente a viver e a sentir as coisas como elas são em muitos, muitos, muitos, muitos, muitos, muitos, muitos anos.
Margarida David Cardoso: Apesar do muito que se sabe sobre o cérebro humano, é ainda muito pouco face à sua complexidade. Conhecem-se pormenores da engenharia cerebral, mas ainda ninguém sabe realmente como é que o cérebro funciona. É como ter conseguido juntar algumas peças de um puzzle, mas estar ainda longe de o completar ou de saber qual a imagem a desvendar. É difícil identificar marcadores biológicos de doenças, encontrar modelos matemáticos que representem os mecanismos cerebrais, e detetar quando e como esses mecanismos se alteram em caso de doença. Isto traduz-se numa dificuldade em ter meios de diagnóstico objetivos e métricas eficazes para avaliar os tratamentos. Para alguns doentes, tudo parece uma grande experimentação.
Para João, o diagnóstico não resolveu todos os problemas. Mas agora…
João Madeira: Ok, agora, espera lá, isto é diferente… Sou mais eu. Isto acho que sou eu, finalmente. A doença faz parte de mim, mas não é quem eu sou.
E saber que és capaz a continuar a fazer tudo aquilo que te propuseste fazer, e se calhar até mais do que pensavas que serias capaz, para quem à partida vinha menos preparado ou menos equipado para lidar com a realidade, é uma grande vitória. E acho que essa é a maior redenção delas todas.
Margarida David Cardoso: Para chegar aqui, aos 40 anos, foi fundamental o acesso que teve a cuidados de saúde. Em última análise, João teve dinheiro para contornar uma má experiência e pagar consultas noutro lugar.
João Madeira: Já não basta o estigma, já não basta o receio, já não basta o receio de serem classificadas como malucas, que é uma coisa impensável. Vá, estamos no século XXI… Não basta esse estigma como, depois, há o problema financeiro. Porque as consultas são proibitivas.
Margarida David Cardoso: E se há um ponto em comum entre as pessoas que entrevistamos – com doenças, origens, idades diferentes – é que para refletirem sobre a sua condição, têm que falar das condições que tiveram para pedir e ter ajuda.
Beatriz Reis: Ah eu lembro-me de sair e de pensar: “Não, eu não consigo pagar terapia todas as semanas”. “A minha ansiedade não vale isso. Não consigo.”
Gonçalo Pereira: Eu tinha uma amiga que sabia que era médica psiquiátrica e foi através dela que eu comecei a ter ajuda. Neste momento, sou regularmente acompanhado ao nível da psiquiatria, no público, no Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Ao nível da psicoterapia, não sou acompanhado no público. É um investimento muito significativo.
Cristina Ferreira: A questão financeira era um peso ali. Todas as vezes que eu ia à consulta, eu pensava: “Isto teria que se resolver entretanto”, e a psicologia precisa de muito tempo, não é? Vou guardar para a consulta do psiquiatra, não dá para as duas coisas.
Cláudia R. Sampaio: Porque fui muitas vezes às urgências de psiquiatria no Hospital de São José. Era um bocado como se fosse um gesto automático. Dava por mim estava nas urgências, porque o desespero era tal.
Ricardo Mateus: E, durante esse período, atingi o ponto mais baixo que eu acho que alguma vez vou atingir na minha vida. Sem o apoio gratuito da Casa Qui, eu não estaria aqui.
Pessoa com doença bipolar (que pediu anonimato): Como é que eu posso ir a um médico que não tenha pelo menos uma hora para mim, em que esteja virado para o computador, a ter uma consulta de computador, não comigo. Eu tenho consultas, desde que tive o surto, eu tenho consultas mensais. Eu quis mesmo que fossem mensais que era para sentir-me protegida, e para garantir que a coisa ia correr bem. Eu mando mail, eu telefono.
Joana Lima: Ai, eu lembro-me da primeira consulta ter sido uma coisa incrível.
Nico: Eu tinha ido ao gabinete de apoio psicológico da minha faculdade e tinha procurado ajuda. Fiz uma consulta de triagem. Estive 40 minutos a chorar naquele consultório. Depois eles deram-me um papelzinho para perguntar como é que eu me estava a sentir e eu disse que realmente eu estava com muita vontade de me magoar, e estive mais de um ano à espera, na lista de espera…
Assunção Costa: Eu já tinha ido à médica de família, já andei ali algum tempo a sofrer… Eu penso que eles vão um bocadinho ao limite da coisa para conseguir encaminhar-nos para o hospital. De forma que eu não esperei. Preferi não esperar, nem sequer, pronto… Fui logo ao privado.
Margarida David Cardoso: Neste episódio, falamos de acesso. Que condições dá o país às pessoas que precisam de cuidados de saúde mental? E aos profissionais que as tratam? Como se desenharam os serviços de saúde? E, quando são insuficientes, quais as consequências na prevenção e tratamento da doença?
Este é o episódio oito: Serviços Mínimos. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça.
II
Bernardo Afonso: Estamos a gravar. Hoje é que dia?
Margarida David Cardoso: Hoje é dia 31 de janeiro.
Bernardo Afonso: Exato, dia 31 de janeiro de 2021. Estamos à porta do hospital.
Margarida David Cardoso: Vamos ali, mais para a beira do hospital. Para a psiquiatria está ali, para o lado da urgência, para aquele lado.
Por esta altura, eu e o Bernardo Afonso estamos a chegar ao Hospital Distrital de Portalegre. Apanhámos Ana Samouco e Afonso Homem de Matos, que aqui ainda eram médicos internos de psiquiatria, no fim de um turno de urgência. Já os ouviste no episódio 6. Aqui, estamos na segunda linha de cuidados, onde devem ser tratados os doentes que precisam de cuidados psiquiátricos especializados. Nos centros de saúde, a primeira linha, devem ser tratados os casos ligeiros e moderados de doença mental.
Ana Samouco: Vir para Portalegre acaba por ser um choque de culturas, quase. Está muito longe, em termos de recursos, de poder fazer o que se faz noutros hospitais um bocadinho maiores. Tem muito menos profissionais. Em contrapartida, as pessoas aqui acabam por construir uma pequena família. Não existe tanta limitação em termos daquilo que podemos fazer por questões burocráticas.
Afonso Homem de Matos: Uma população pobre – vamos dizer assim –, muito envelhecida, com um índice de dependência de idosos enorme. Temos uma taxa de desemprego altíssima, temos baixos níveis de escolaridade, altas taxas de analfabetismo – isto tudo quando comparado com aquilo que é a média nacional. Se associarmos isso a um distrito que é enorme, que tem uma população dispersa. Temos os cuidados de saúde mental concentrados num sítio, apesar de nós fazermos consulta descentralizada, isto depois vai levar ao desencontro entre aquilo que é a procura e depois a oferta dos cuidados de saúde.
Ana Samouco: Sim, que é sempre insuficiente. Mesmo para as pessoas que nos procuram temos dificuldade em dar a resposta que as pessoas precisam e que mereciam, e que, se calhar, receberiam noutros sítios.
Eu tenho pessoas que me pedem “Por favor, não me marque consulta, só daqui para não sei quanto tempo, porque eu não consigo despender dinheiro”. Porque o táxi vem, se a pessoa não tem a consulta logo à hora que está marcada, o táxi está aí à espera.
Margarida David Cardoso: Porque o táxi tem que esperar?
Ana Samouco: Sim, porque não há. Depois as pessoas para ir embora não tinham como. Então, o táxi aí fica. Ainda ontem um doente da urgência, que esteve aí o dia todo, o táxi ficou 12 horas à espera, a contar. É de loucos.
Margarida David Cardoso: Faltava um pouco de tudo. Neste serviço de saúde mental, segundo o retrato feito em março de 2022, havia apenas três psiquiatras residentes, um dos quais diretor de departamento, outro diretor de serviço. Havia uma assistente social, um terapeuta familiar (que era também terapeuta ocupacional) e três psicólogos – nenhum dos psicólogos estava a tempo inteiro. Os enfermeiros desdobravam-se entre o internamento e visitas domiciliárias. Na unidade infantojuvenil, havia dois psicólogos (um apenas 11 horas por semana). E, desde dezembro de 2021, uma médica interna dava consultas de seguimento aos menores de 18 anos que, até então, eram acompanhados pela psiquiatria de adultos.
E com estes recursos, faziam-se os mínimos: crianças e jovens com pedidos de primeiras consultas continuavam a ser encaminhados para o Hospital D. Estefânia, em Lisboa, a 2h30 de casa. O mesmo quando precisavam de internamento ou de urgência. Para adultos, havia urgência três dias por semana, e dois fins de semana por mês; havia internamento e consulta geral. Além da unidade de tratamento e recuperação de pessoas com dependência de álcool, não havia outras consultas especializadas.
Afonso Homem de Matos: Porque não temos pessoas suficientes para as ter, de certa forma é isso.
Ana Samouco: Temos que nos dedicar à coisa grossa, não é?
Afonso Homem de Matos: Sim, sim.
Ana Samouco: Aos problemas principais…
Margarida David Cardoso: Isto obriga a uma ginástica de agendas e consultas com horários sobrepostos.
Ana Samouco: Às vezes acontece ter três doentes marcados à mesma hora.
Margarida David Cardoso: Intervalos entre consultas maiores do que seria clinicamente confortável.
Ana Samouco: Embora também não tenha uma agenda, ou seja, uma lista de doentes muito grande, ainda assim já se torna um bocadinho difícil de marcar nos timings em que eu gostaria.
Margarida David Cardoso: Traduz-se em consultas marcadas de forma oficiosa para dias de urgência.
Ana Samouco: Sei lá, às vezes, isto [é] muito pouco convencional e nem sei até que ponto adequado, às vezes peço a pessoas para virem nos dias em que estou de urgência, porque se não, não haveria vaga de consulta.
Margarida David Cardoso: E episódios de urgência que não o são.
Afonso Homem de Matos: “Olhe, hoje há urgência de Psiquiatria ou não?” “Não, há não sei quando.” Ligam para as telefonistas aqui do hospital, que depois têm a escala e dizem: “Venha só na terça, porque só há urgência na terça-feira.”
Margarida David Cardoso: E no final do dia, isto culmina em listas de espera longas: em Portalegre, em meados de outubro de 2022, 236 pessoas esperavam 200 dias, mais de meio ano, entre terem feito o pedido e a data da primeira consulta de psiquiatria. No site oficial que agrega os tempos médios de espera no serviço público, não há dados sobre a psicologia neste hospital. E aqui, note-se, que, como dá conta a Entidade Reguladora da Saúde, os hospitais e cuidados primários do SNS têm dificuldades em extrair todos os dados e dados mais corretos relativos aos tempos de espera.
Mas, no SNS, o pior não é marcar a primeira consulta. Há uma pressão para cumprir os tempos máximos de resposta para primeiras consultas definidos por lei e, em 2020, seis em cada sete utentes da psiquiatria foram atendidos antes dos limites estabelecidos: 30, 60 ou 120 dias consoante o grau de prioridade. O pior é marcar as consultas seguintes.
Aqui Pedro Morgado, psiquiatra no Hospital de Braga. À data desta entrevista, em 2020, ainda não era coordenador regional da saúde mental no Norte, como é hoje.
Pedro Morgado: Não é aceitável que as pessoas, às vezes, tenham consultas de meio em meio ano, ou de ano a ano. Ou, às vezes, em alguns hospitais mais do que um ano entre consultas. Isto não é aceitável. Isto é um problema que é muito antigo, de falta de recursos na saúde mental, mas que se ele também estivesse resolvido nós poderíamos reduzir muito o afluxo aos serviços de urgência e as tais falsas urgências, que seriam desnecessárias.
Susana Pinto Almeida: E há muitos hospitais que funcionam em função das suas urgências, em função das pessoas que têm para fazer a urgência.
Margarida David Cardoso: A psiquiatra Susana Pinto Almeida diz que este espaçamento das consultas vem, em parte, da tentativa de resposta às urgências. Hoje médica no Hospital Prisional São João de Deus e consultora forense no Instituto Nacional de Medicina Legal, Susana trabalhou no SNS até 2018, na psiquiatria geral dos hospitais de Leiria e de São João, no Porto. Descreve um ciclo que se auto-alimenta.
Susana Pinto Almeida: E imaginemos que há necessidade de fazer mais horas (porque há quase sempre necessidade de fazer mais horas, não é!?) e eu em vez de estar 12 horas de urgência numa semana, vou estar 24, ou até vou estar três períodos de 12.
Mas posso estar na urgência e posso estar preocupada com doentes que tenho internados, que estão na unidade de internamento, que muitas vezes é deslocada até do próprio serviço de urgência e posso estar preocupada porque entretanto tenho que remarcar consultas porque eu naquele período devia estar a fazer consultas e afinal estou destacada na urgência e tenho que as remarcar para algum sítio. Mas, depois, quando vou ver o sítio, é daqui a seis meses. E penso: “Estas pessoas isso contribui não têm culpa do funcionamento ser este e, portanto, não vou estar…” O que é que acontece? Posso ir sobrecarregar a minha agenda nas próximas semanas para tentar colmatar. E, portanto, é este jogo…
Margarida David Cardoso: Para aliviar a falta de pessoal nos hospitais, entra também neste jogo o trabalho de médicos tarefeiros, contratados temporariamente consoante as necessidades. Em todo o SNS, essas necessidades têm vindo a crescer, segundo a Administração Central do Sistema de Saúde, em especial para – e cito – “assegurar o regular funcionamento dos serviços de urgência”. Em 2021, foi registado um valor recorde de 136,4 milhões de euros [€136.419.352] na remuneração destes médicos. Quase mais 5% do que no primeiro ano de pandemia [€130.289.801 em 2020].
Em Portalegre, em março de 2022, funcionava assim: dois psiquiatras tarefeiros asseguravam os dois fins de semana de urgência por mês; outros dois faziam um total de 35 horas mensais de consulta. Isto contribui para que fique pelo caminho uma ideia de continuidade de cuidados – de profissionais que não andam a saltar de sítio para sítio, que estão habituados a trabalhar uns com os outros.
Ana Samouco: É muito difícil para nós estabelecer alguma relação de continuidade com os colegas para que eles também se sintam à vontade para referenciar os doentes. Ou até para nós os alertarmos para determinadas situações, para estarem atentos a determinados casos.
Há muitos mitos e muito desconhecimento na medicina em geral sobre a saúde mental. E isso também limita muito o acesso das pessoas. Há quadros clínicos que se tornam crónicos e que as pessoas ficam com défices enormes, simplesmente, porque não são tratadas quando era adequado. Isso tem um impacto em termos sociais enorme, de dependência, de incapacidade laboral, económicos – a pessoa tem que receber baixas depois, o resto da vida ou subsídios. Isso seria totalmente desnecessário se, de facto, houvesse os cuidados de que a população precisa. E que esta população precisa muito.
Margarida David Cardoso: Há doentes que podem precisar de ajuda ou podem querer ter ajuda, e estão sem diagnóstico ou estão sem acompanhamento por falta de profissionais de saúde? Isso acontece?
Ana Samouco: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Não só no diagnóstico, mas mesmo no acompanhamento. Nós não conseguimos dar, de todo, o acompanhamento que seria necessário, ou com a frequência que seria necessária, ou com o tempo que seria necessário. E, sobretudo, em termos de psicoterapia é impossível.
Margarida David Cardoso: Vocês diriam que o tempo de consulta que têm é suficiente?
Ana Samouco: Depende dos casos. Depende dos dias, se faltarem pessoas. [risos]
Afonso Homem de Matos: Sim, se faltarem pessoas dá para fazer consultas aos que vêm, isso dá, isso dá. Não é que não haja consultas em que se consegue cumprir, até abaixo do tempo… O que está previsto é meia hora para as consultas subsequentes, 45 minutos para as primeiras consultas. Não é que algumas não sejam, de facto, mais curtas, mas eu diria que a maioria o tempo não chega, principalmente para as subsequentes.
Ana Samouco: Não, sobretudo quando há necessidade de uma intervenção mais psicoterapêutica.
Afonso Homem de Matos: Claro, exatamente.
Margarida David Cardoso: Após um processo de discussão e consulta pública, a Ordem dos Médicos estabeleceu, em 2019, os tempos médios padrão que considera adequados para o bom atendimento: os tais 45 minutos na primeira consulta de psiquiatria de adultos; meia hora nas seguintes. Internamente podem, no entanto, estar instituídos tempos inferiores. Ou não haver forma de não sobrepor consultas dada a necessidade de ver os doentes. Numa tarde de seis consultas, é possível ter 12 marcadas, conta um psiquiatra.
Mas a doença mental não se diagnostica com um raio-x, uma TAC ou uma biópsia, com análises ao sangue ou radiografias; na doença mental, há pouco mais do que a conversa. A arte reside, em grande parte, em ouvir e deslindar o que a pessoa diz, como o diz e vai dizendo ao longo do tempo, como se comporta. E depois traduzir essa ambiguidade – às vezes confusa, outras vezes até poética – em conhecimento clínico. Um primeiro diagnóstico pode vir a ser corrigido em consultas seguintes. Mas essa arte precisa de tempo.
O psiquiatra Miguel Xavier, professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa, é o coordenador nacional das políticas de saúde mental – como já dissemos e falaremos disso mais à frente. É, desde 2018, responsável pelos destinos do Plano Nacional de Saúde Mental, de que também é autor. E por ter estas responsabilidades é particularmente significativo ouvi-lo dizer isto.
Miguel Xavier: Em consultas de 15 minutos não se consegue avaliar um doente. Aliás, isto é uma questão mais complexa ainda porque quando nós pensarmos naquilo que nós ensinamos nas faculdades, sobre todas as dimensões que são precisas avaliar numa pessoa, para ter uma avaliação minimamente abrangente e integrada dessa pessoa…E tudo aquilo que nós dizemos quando estamos ensinar às pessoas – que é importante avaliar –, isso é completamente incompatível com consultas de 15 minutos. Era preciso ter capacidades de adivinhação! Porque não se consegue entrar nas vivências de um outro ser humano em 15 minutos, por amor de Deus. Principalmente quando as pessoas, a maior parte delas, não chega lá com um diagnóstico claro. Chega lá com queixas vagas. Nem sequer dá para uma avaliação somática decente, quanto mais para uma avaliação psicológica.
Afonso Homem de Matos: A questão do tempo. Eu estou agora a fazer formação em psicoterapia. Eu fico sempre meio… Não sei qual é a palavra certa. Triste, talvez seja triste, quando os ouço dizer coisas “Pronto, mas não se esqueçam que não se faz psicoterapia sem pelo menos sessões semanais de uma hora ou algo deste género” e eu penso… Claro que não se espera que eu faça aqui uma coisa psicoterapêutica muito desenvolvida, mas só a comparação com o que se espera de um processo psicoterapêutico com pés e cabeça está completamente fora daquilo que seria exequível no Serviço Nacional de Saúde, acho eu.
Margarida David Cardoso: Havendo pouco tempo, há familiares e técnicos que acompanham pessoas com doenças mentais graves que fazem mesmo preparação das consultas: veem as melhores formas de comunicar e apontar queixas, dizer: “Não me dou bem com este medicamento”, “Sinto isto, sinto aquilo”. Evitar a repetição do ciclo vicioso em que “o médico não pergunta e o doente também não diz”.
No lado dos clínicos, o mais frequente já são as horas extra – às expensas próprias, dos restantes trabalhadores do hospital e de quem espera.
Ana Samouco: E muitas vezes acontece.
Afonso Homem de Matos: Sim, é o mais frequente.
Ana Samouco: Eu, pelo menos, às vezes, três horas depois da hora.
Afonso Homem de Matos: Sim, sim, sim.
Ana Samouco: Além disso, também não há profissionais em termos de psicologia suficientes para dar resposta a este tipo de questões.
Margarida David Cardoso: Em Portalegre, no início de 2021, encaminhar para a única psicóloga que havia no serviço, a meio tempo, era algo que Ana Samouco fazia com cautela.
Ana Samouco: Eu geralmente tenho muito, muito cuidado, e até algum receio, porque, de facto, ela já está sobrecarregadíssima.
Enfim, é mesmo um fragilidade enorme de psiquiatras, de profissionais de saúde mental nesta região, e que, aliás, todas as estatísticas confirmam. E mesmo em face das recomendações da própria DGS que, diga-se, já são de 1995… Até para esses padrões do século passado nós estamos mal.
III
Margarida David Cardoso: Os últimos anos vieram reforçar o número de médicos nos serviços de psiquiatria dos hospitais. Hoje vêem-se menos carenciados. O número de psiquiatras no SNS aumentou 43% em 15 anos [2006-2021], chegando aos 601, em 2021. Na psiquiatria da infância e da adolescência, o aumento para 121 pedopsiquiatras representou uma subida de 71%. O problema continua a ser a sua distribuição desigual pelo país e a falta de todos os outros profissionais.
Perante a ausência de dados do Ministério da Saúde, este é o retrato feito pelo coordenador das políticas de saúde mental: os únicos profissionais de saúde mental de que não existe uma falta enorme – não que os haja em excesso – são os psiquiatras de adultos. A falta de pedopsiquiatras – citando – “é gritante”. Enfermeiros nos serviços de saúde mental são “menos de mil”. Psicólogos, “600 e tal”. Assistentes sociais, “menos de 100”. Terapeutas ocupacionais, também “menos de 100”.
Estes números são arredondados desta forma porque, até fevereiro de 2022, a administração central não tinha dados atualizados e centralizados sobre o número de pessoas em cada serviço. Desde o início do ano, há um excel a circular entre diretores de serviço para que deem conta dos recursos humanos com que trabalham.
Com os números das associações profissionais, há outra forma de olhar para os dados. Em meados de outubro de 2022, eram cerca de 24.300 os psicólogos registados na Ordem, nem todos com formação em clínica. Trabalham nos serviços de saúde mental “600 e tal”. Há “cerca de 21 mil” pessoas formadas em serviço social, “menos de 100” exercem nestes serviços. E dos “cerca de 2000” terapeutas ocupacionais, trabalham aqui “menos de 100”.
António Gamito: O que nós sentimos mais, neste momento, é a falta, não tanto de médicos, mas de outros técnicos.
Margarida David Cardoso: Em Setúbal, António Gamito dirige o departamento de Psiquiatria e Saúde Mental que responde a cerca de 329 mil habitantes de seis concelhos. Em outubro de 2021, o retrato era este: tinha dois assistentes sociais. Os rácios definidos pela Direção-Geral da Saúde, em 1995, apontam para a necessidade de haver, pelo menos, seis – um por cada 50 mil habitantes. O mesmo na terapia ocupacional. Havia um terapeuta, deviam ser no mínimo seis. E a própria “utilização destes rácios como referência”, disse a Entidade Reguladora da Saúde em 2015, “não deixa de levantar questões quanto à sua adequação face à realidade atual das doenças mentais”. Por exemplo: estas recomendações sugerem um psicólogo por cada 50 mil habitantes, portanto seriam 207 psicólogos para as 10 milhões e 344 mil pessoas que vivem em Portugal.
António Gamito: Os 21 enfermeiros que temos no departamento dificilmente conseguem – conseguem, mas com muita dificuldade —, dar apoio a todas as valências que nós, neste momento, temos.
Margarida David Cardoso: Os rácios apontam para a necessidade de haver quase o dobro dos enfermeiros, 39. E, regra geral, quem precisa de consultas de psicologia…
António Gamito: Pois, neste momento, a resposta é: “As pessoas têm de recorrer a psicólogos privados.” Também há algumas cooperativas de psicólogos que fazem preços acessíveis. Agora, isso não é solução.
Margarida David Cardoso: Em Vila Real, no serviço de psiquiatria do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, não é raro os concursos para contratação de médicos ficarem sem candidatos. Lutam contra os receios e os mitos da interioridade. E quando, no final de 2021, conseguiram uma nova psiquiatra… ela veio de Portalegre. O retrato é da diretora de serviço, Dulce Maia.
No início de 2022, para uma área com cerca de 300 mil pessoas, tinham seis psiquiatras para fazer internamento, urgência diurna e vários tipos de consulta: psico-oncologia, psiquiatria de ligação, psiquiatria do sono, tratamento de alcoologia, consultas gerais em Lamego e Chaves, e ações de prevenção no estabelecimento prisional. Dulce Maia.
Dulce Maia: Nós somos muito poucos. Imagine o esforço de cada um dos membros da equipa, que eu não me canso, de facto, de sublinhar porque são pessoas que têm um verdadeiro amor à camisola, porque, caso contrário, não seria possível sustentarem um serviço de urgência, um internamento e uma atividade clínica com todo este peso de que estamos a falar.
Margarida David Cardoso: Quando se tornou humanamente impossível dar vazão a todos os pedidos de consulta, criaram uma primeira consulta de triagem e começaram a formar médicos de família.
Dulce Maia: Verificámos que estávamos a receber um nível de consultas que era perfeitamente absurdo e, por outro lado, de situações que já poderiam estar tratadas – diagnosticadas e tratadas adequadamente há muito tempo.
Margarida David Cardoso: Em Leiria, Cláudio Laureano coordena o serviço de psiquiatria para uma área de influência que ronda os 400 mil habitantes. As coisas foram particularmente graves em 2012. Lembra-se de uma semana em que havia apenas dois psiquiatras para assegurar o serviço.
Cláudio Laureano: Hoje a realidade, apesar de tudo, é substancialmente diferente para melhor. Comparativamente a essa data, o número de internamentos na unidade de agudos desceu praticamente para metade. Seguramente porque, na altura, a resposta que havia em termos de consulta externa também era muito mais deficitária, não tínhamos hospital de dia, não tínhamos uma intervenção comunitária estruturada como temos agora, e, naturalmente, que isso depois se refletia no número de doentes que mais facilmente descompensava, devido à ausência de uma intervenção precoce, e que acabavam internados.
Margarida David Cardoso: No Centro Hospitalar de Leiria, no início de 2022, havia 13 psiquiatras, um pouco mais de 40 enfermeiros. E apesar de as coisas estarem melhores, duas assistentes sociais, a meio tempo – deviam ser oito, a tempo inteiro, segundo os rácios definidos há 27 anos. Desde 2017, há uma terapeuta ocupacional. Deviam ser no mínimo oito. Até 2022 começar, trabalhavam apenas duas psicólogas – uma terceira iniciou funções no início desse janeiro. Os rácios apontam para oito.
Cláudio Laureano: E aí nomeadamente uma das psicólogas do serviço já só consegue ter agendamento disponível para segundas consultas provavelmente para o final de 2022.
Margarida David Cardoso: Esta entrevista foi feita aos primeiros dias desse ano.
Cláudio Laureano: Não faz sentido nenhum um psicólogo vir ver um doente, hoje, numa primeira consulta e só ter vagas depois para lhe remarcar uma segunda consulta para daqui a uns meses ou se for preciso para daqui a um ano. Isto, no fundo, não é nada. Não se consegue trabalhar aqui minimamente, desenvolver qualquer tipo de intervenção psicoterapêutica. São limitações muito graves.
Margarida David Cardoso: São limitações como estas que redundam numa descontinuidade de cuidados. Pessoas que são perdidas pelos serviços de saúde, que deixam de ir porque há doenças mentais que toldam o insight, o autoconhecimento e a perceção de que se está doente –; porque não veem os efeitos das terapêuticas ou não têm ferramentas para as compreender; porque não houve tempo ou vontade para explicar devidamente que os antidepressivos podem piorar os sintomas de depressão nas primeiras semanas; que um transtorno de ansiedade pode, muitas vezes, ser tratado com um antidepressivo; que tanto a apatia como a irritabilidade podem ser alertas de início de uma doença psicótica; ou que parar a medicação de repente pode desencadear uma recaída com consequências difíceis de reverter… Sem tempo de consulta, se há um clima de dúvida ou insegurança, ele adensa-se.
Entre 2006 e 2007, estudou-se a continuidade de cuidados na antecâmara do Plano Nacional de Saúde Mental. Aquele documento de que falamos no primeiro episódio, que propunha a reestruturação dos serviços públicos até 2016. Uma comissão designada para estruturar a reorganização dos serviços fez quatro estudos. E, num deles, olhou para as urgências de cinco hospitais de Lisboa, Coimbra e Porto, e viu que 60% dos utentes que tentaram marcar uma consulta de psiquiatria durante o ano anterior tiveram dificuldades ou não conseguiram. Dos que tinham acompanhamento psiquiátrico, um terço não só não teve uma consulta nos 12 meses anteriores como nem sequer tentou marcá-la. E 82% dos reinternamentos aconteceram antes de qualquer contacto em consulta.
Em resposta, o plano preconizou que os serviços de psiquiatria teriam consultas gerais e consultas especializadas – quanto mais descentralizadas melhor. E para os doentes mais graves: hospitais de dia – onde há o acompanhamento intensivo de um internamento mas sem ter que internar –, internamentos, quando necessários, unidades de reabilitação, e, acima de tudo, equipas comunitárias. A jóia da coroa do plano.
Aqui, o psiquiatra António Gamito, de Setúbal.
António Gamito: Imagine um doente que vem à urgência e que é um doente que está no limite entre precisar de internamento ou não. Nós podemos não internar esse doente e esse doente ser visto regularmente, em casa, quase como se fosse uma hospitalização domiciliária, por essa equipa comunitária. Em última análise, uma equipa comunitária assertiva pode fazer quase uma hospitalização domiciliária. Outra parte, há sempre doentes que ou se perdem da consulta ou são doentes que têm dificuldade de acesso à consulta e que precisam de ser reavaliados para ver em que estado é que eles estão.
Margarida David Cardoso: Para serem completas, segundo o decreto-lei que as veio definir, em 2020, estas equipas têm que ter um psiquiatra ou pedopsiquiatra, dois enfermeiros (sendo um deles especialista), um psicólogo clínico, um assistente social, um terapeuta ocupacional e um assistente técnico. Gente de diferentes áreas para trabalhar onde e como for preciso, na tentativa de adiar o mais possível a dependência e a institucionalização de doentes graves, se não evitá-las em absoluto.
António Gamito: Aliviar os serviços de internamento, e os doentes descompensarem menos, serem menos internados e serem tratados num clima de proximidade.
Margarida David Cardoso: Têm-se generalizado as intervenções comunitárias, para chegar a mais sítios mais cedo. Há serviços que o fazem alocando horas de profissionais do serviço hospitalar. Acontece, como em Leiria, diz Cláudio Laureano, ser hábito a equipa de enfermagem ir administrar injetáveis antipsicóticos fora do hospital, para evitar faltas e deslocações dispendiosas, e para sinalizar eventuais situações de crise. Ou, como em Vila Real, diz Dulce Maia, onde se instituíram vias para formar médicos de família. E há serviços que têm equipas a fazer visitas domiciliárias e consultas nos centros de saúde, como fazem o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental ou o Hospital Amadora-Sintra [Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca].
Mas, por norma, esta intervenção comunitária não está generalizada pelo país e, em muitos casos, não tem ainda, como devia, equipas comunitárias completas, verdadeiramente multidisciplinares e com profissionais a tempo inteiro. Em alguns casos significa, novamente, garantir o mínimo.
Jorge Pereira: Nós, neste momento, temos pouco mais do que tempo para conseguir assegurar que eles tomem a medicação. É óbvio que podíamos fazer muito mais do que isso, se tivéssemos técnicos para isso e se tivéssemos condições para isso.
Margarida David Cardoso: Jorge Pereira é enfermeiro numa destas equipas. Criada em 2011, pelo Centro Hospitalar do Porto, a equipa de Psiquiatria Comunitária de Gondomar garante consultas de psiquiatria e psicologia, e acompanha a toma de medicação de cerca de 400 doentes, diz-nos. Não tem assistentes sociais, nem terapeutas ocupacionais. E perdeu, durante a pandemia, o espaço que ocupava no centro de saúde de Gondomar, passando a dividir-se por outros gabinetes livres. Novas instalações estão previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (o PRR).
Jorge Pereira: Nós tínhamos grupos psicoeducativos para doentes com psicose, para familiares de doentes com psicose, para doentes com doença bipolar, tínhamos grupos de relaxamento, tínhamos grupos para pessoas com depressão. Tudo isso, neste momento, não existe – há dois anos que não temos.
Margarida David Cardoso: Perde-se uma via de contacto com alguns doentes e qualquer ideia de prevenção ou reabilitação.
Jorge Pereira: Que é uma coisa que eu acho que é impressionante como não está institucionalizado, como um doente que parte uma perna e ao fim de tirar o gesso, precisa de fazer fisioterapia porque esteve meio ano com aquela perna parada. Não cabe na cabeça de ninguém aquele doente não fazer fisioterapia. Mas na doença mental cabe na cabeça das pessoas que não é preciso. Porque são doentes que estiveram descompensados dois anos, ou um ano e tal, e quase nem saíram de casa e que têm défices brutais, que se não houver alguém a acompanhá-los nesse processo, as coisas não vão recuperar, nem reabilitar. Mas a verdade é que não existe, na psiquiatria.
Margarida David Cardoso: Miguel Xavier, coordenador nacional das políticas de saúde mental.
Miguel Xavier: Até aqui o não haver recursos, de facto, tem obstaculizado a diferenciação daquilo que se faz fora. Porque isto não é só ir a casa dos doentes “Então tá bom, e tal?”. E já não é mau, mas não chega. Ninguém pense que Psiquiatria Comunitária, bem feita, é o médico, a equipa, em vez de fazer as consultas no hospital, vai fazê-las a cinco quilómetros de distância. A psiquiatria comunitária avançada é de extrema diferenciação no tipo de intervenções que faz, extrema diferenciação.
Margarida David Cardoso: Miguel Xavier diz isto com a autodefesa de que o cargo que ocupou, desde 2018, não tinha autonomia ou poder executivo – vamos aí em detalhe no final desta série. Mas, o coordenador para a saúde mental acredita que os recursos terão chegado, por fim.
No final de 2020, começaram a ser criados dez projetos-piloto de equipas comunitárias, financiadas pelo Orçamento do Estado, tal como previstas no plano de 2007: completas e com pessoal próprio. Cinco para a infância e adolescência e cinco para adultos. Duas por cada região de saúde. São experiências-piloto que, segundo o plano nacional, deviam ter sido desenvolvidas até 2012, e começaram a funcionar em 2021. Algumas com dificuldades de contratação que impediram, por exemplo, a constituição integral da equipa de infância e adolescência do Algarve por falta de pedopsiquiatra. Com o financiamento do PRR e dotação orçamental própria do governo, espera-se agora que haja 40 equipas comunitárias completas, em 2026.
Susana Sousa Almeida, psiquiatra no IPO do Porto, diz que a eficácia das equipas comunitárias está demonstrada.
Susana Sousa Almeida: Isso está tudo testado. Nós não inventamos o Santo Graal. Isso está tudo testado noutros países e os sistemas funcionam. Eu fico sempre com muita urticária quando ouço profissionais a dizer que isso é um mito e que isso é uma coisa irreal. Não é!
E o que é curioso é que até poupa dinheiro. Porque se nós tivermos os doentes tratados, nós temos mais pessoas reabilitadas, temos mais pessoas que não perderam a vida toda de unidades/ano profissionais que vão para o lixo. A incapacidade por doença mental é brutal. A depressão já vai ser a principal causa de incapacidade em vida ativa nos próximos cinco anos. À frente das doenças oncológicas e das doenças cardiovasculares. Porque são muitas pessoas em idade ativa que não recuperam a capacidade profissional.
Margarida David Cardoso: No Canadá, a Comissão de Saúde Mental, criada pelo governo, tem trazido cálculos económicos para junto destes argumentos. Em 2017, por exemplo, demonstrou, com base em nove estudos feitos no país, que equipas comunitárias de resposta rápida podem reduzir para metade os custos com os cuidados de saúde em jovens com ideação suicida. Que melhorar o acesso a psicoterapias, além de melhor qualidade de vida, poupa cerca de dois dólares por cada dólar gasto. Mostrou que a oferta de uma única sessão de aconselhamento para pessoas que vão frequentemente às urgências podia resultar numa poupança do equivalente a 15 euros por pessoa ao fim de um mês, por causa do absentismo e das visitas ao hospital que se evitam.
E só mais dois resultados: oferecer atempadamente cuidados multidisciplinares a pessoas com défices temporários resultou numa média de 16 dias a menos de incapacidade por pessoa, e em menos pessoas em transição para danos permanentes.
Um último: tratar pessoas séniores com seis sessões psicoterapêuticas nos cuidados primários, em vez de as medicar com sedativos ou nem terem qualquer tratamento, representou uma poupança total de até 7.500 euros por pessoa.
IV
Margarida David Cardoso: Quando eu penso em saúde, a imagem de um hospital é a primeira que me vem à cabeça. A entrada de uma urgência, cadeiras duras de plástico às cores, corredores brancos incandescentes ou paredes pastel corridas com uma tira de madeira. Mas há décadas que relatórios e políticas de saúde andam a dizer que este modelo hospitalocêntrico não é o suposto.
O Plano Nacional de Saúde Mental é um deles. Lá diz-se que deve ser na comunidade que se cuida e trata, com epicentro nos cuidados primários – vulgo centros de saúde. Estes são os pontos de acesso aos serviços especializados, os porteiros do SNS. Devem ser os locais mais acessíveis para prevenir e tratar casos ligeiros e moderados, em particular de especialidades com elevadas prevalências. Na saúde mental, principalmente as perturbações ansiosas e depressivas.
É por isso que, em Portugal, é nos centros de saúde, e não nos hospitais, que grande parte das pessoas recebe cuidados de saúde mental. É também dos centros de saúde que resulta a maioria das prescrições de psicofármacos. Diz o Plano Nacional de Saúde Mental que é suposto que médicos e enfermeiros de família, a articularem-se com psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e outros profissionais, tenham linhas diretas para consultadoria e supervisão com a psiquiatria. “Consultas ombro-a-ombro”. E, no caso de crianças e jovens, que daí se ramifiquem contactos com serviços sociais, escolas, comissões de proteção de menores, instituições de acolhimento, equipas de intervenção precoce, centros de tratamento de dependências… O que for preciso.
António Nabais, enfermeiro-chefe no hospital D. Estefânia, especialista em saúde mental e psiquiátrica, ilustra isto.
António Nabais: Para trabalhar em saúde mental não se pode trabalhar como nas outras áreas das especialidades médicas. Não basta ter um médico a fazer consultas, que isso não vai resolver a maior parte dos problemas. Porque os problemas de saúde mental, além de serem multifatoriais – não há aqui uma relação causa-efeito, diria eu assim em tom de piada, não há um esquisococus, não há um bichinho que causa um problema na área da saúde mental e que nós que prescrevemos um medicamento e o problema se vai resolver.
Margarida David Cardoso: Mas… a generalidade dos centros de saúde têm apenas médicos e enfermeiros. A falta de profissionais na saúde mental abrange também os cuidados de saúde primários. Para um número crescente de unidades – mais de 1100, no final de 2021 –, havia 535 psicólogos. Dados do Ministério da Saúde sobre os profissionais com contrato de trabalho. Assistentes sociais eram 447, terapeutas ocupacionais 47.
Além de serem poucos, estão distribuídos de forma desigual, diz o médico de família João Rodrigues. Trabalha na Unidade de Saúde Familiar de Coimbra-Celas e é coordenador dos cuidados de saúde primários no Grupo de Apoio Técnico à Implementação das Políticas de Saúde – um grupo criado, em 2021, junto do Ministério da Saúde de Marta Temido.
João Rodrigues: Nós temos, a nível nacional, agrupamentos de centros de saúde com três psicólogos, e temos agrupamentos de centros de saúde com 20 psicólogos.
Margarida David Cardoso: As regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve tinham rácios de cinco, seis, ou até sete psicólogos por 100 mil habitantes. Já a zona Centro não chegava a ter três. Tinha 59 psicólogos nos centros de saúde para servir mais de dois milhões e 200 mil cidadãos contabilizados nos últimos censos.
João Rodrigues: A questão prende-se depois que há muitas unidades que têm médias de utentes por equipa de saúde familiar, médico e enfermeiro de família, muito acima da média. Mas há uma percentagem elevada, que será aproximadamente metade, 50 a 60%, que tem números aceitáveis. E aí a acessibilidade é real.
Margarida David Cardoso: Ou seja, a acessibilidade é desigual. Há quem seja visto na hora, pelo médico do costume, num centro de saúde de paredes branquíssimas, corredores amplos e modernos; e quem tenha que fazer fila de manhã cedo para garantir vaga à porta de um velho prédio, de difícil acesso. O modelo de gestão de cada unidade, e a respetiva sigla, também influencia. A reforma da saúde mental cruza-se com a dos cuidados primários, iniciada em 2005, e que está igualmente por terminar. Juntas criam manchas de desigualdade no país.
É certo que nos últimos anos se deram saltos quantitativos no acesso a este nível de cuidados. A cobertura de médico de família, que em 2010 era de 82%, chegou a um valor recorde de 93%, em 2018. Mas desde aí esta tendência inverteu-se: 2021 terminou nos 89%. Aconteceu o que não acontecia desde 2015: voltou a ultrapassar-se a fasquia de um milhão de pessoas sem médico de família [1.139.244, no final de 2021; 1.298.078, em setembro de 2022]. O que significa mais dificuldades em serem acompanhadas.
João Rodrigues: E, normalmente, neste um milhão está muita gente vulnerável: está muita gente que está desempregada, que é de uma classe social mais baixa.
Margarida David Cardoso: Não há nenhum estudo que o demonstre. João Rodrigues sustenta-o por ver concentrarem-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, imigrantes de contextos desfavorecidos, sem equipa de saúde familiar. É nesta região que estão a maioria das pessoas sem médicos de família. Eram, em setembro de 2022, mais de 923 mil [923.325]. Em cinco dos agrupamentos de centros de saúde da região [ACES Oeste Sul, Sintra, Arco Ribeiro, Amadora e Estuário do Tejo] mais de um quarto dos inscritos não tinha médico atribuído. Ao passo que há zonas na região Norte com uma cobertura acima dos 99%.
Mas mesmo que houvesse médicos de família para todos, também há que acrescentar que na saúde mental mais profissionais não significam por si só mais ganhos em saúde. Serviços com muita gente mas sem respostas comunitárias ou capacidade de se articularem entre si não são solução.
De novo, o psiquiatra Pedro Morgado.
Pedro Morgado: Acho que há muito a fazer na comunicação entre os hospitais e os centros de saúde. Há um investimento muito grande a fazer na consultoria, naquilo que é a discussão partilhada de casos clínicos e a orientação partilhada de casos clínicos. Mas eu penso que os médicos de família estão perfeitamente capazes de fazer o rastreio e o diagnóstico. Faltam-lhes é, depois, as respostas.
Margarida David Cardoso: João Rodrigues partilha da mesma opinião. Os médicos de família têm, entre as suas competências, que saber prevenir a doença mental e detetar sinais de alerta, diagnosticar e tratar as perturbações mais comuns, com opções de tratamento farmacológico e não farmacológico. A saúde mental é uma das áreas de formação obrigatória ao longo dos quatro anos em que tiram a especialidade de medicina geral e familiar. Têm que fazer 48 horas de urgência psiquiátrica e um a três meses de estágio na área.
João Rodrigues: O problema não é esse. O problema é a rede que ainda não está montada, o trabalho colaborativo que não existe, as dificuldades de referenciação… E, depois, a maior parte de nós, andamos todos de costas voltadas uns para os outros.
Margarida David Cardoso: Ao longo dos anos, foram sendo reportadas essas dificuldades na articulação entre centros de saúde e hospitais e no acompanhamento de utentes.
Em 2008 e 2009, quando se conseguiu fazer o primeiro e único Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental, estimou-se que quase 65% das pessoas com algum tipo de perturbação mental não tinha tido qualquer tratamento no ano anterior. Um terço dos doentes graves estava sem cuidados. E podiam-se passar anos entre os primeiros sintomas e o início do tratamento: a mediana nesse atraso era de quatro anos na depressão major, seis na doença bipolar.
Já em 2011, uma missão da Organização Mundial da Saúde, que veio avaliar o progresso das reformas da saúde mental, apontava para o risco dos serviços hospitalares ficarem esmagados com tantos casos de ansiedade e de depressão referenciados pelos cuidados de saúde primários, e não conseguirem dar resposta a todas as pessoas com problemas graves e permanentes.
E, em 2016, quando o prazo original para cumprir o Plano Nacional de Saúde Mental terminou e este teve que ser revisto, escrevia-se que, ao contrário da maioria dos países da Europa ocidental, em Portugal, as terapias psicológicas para ansiedade e depressão continuavam a não ser, regra geral, disponibilizadas nos cuidados de saúde primários.
Pedro Morgado resume.
Pedro Morgado: Se nós tivermos, nos cuidados de saúde primários, uma boa resposta para as perturbações de ansiedade e para as perturbações depressivas ligeiras a moderadas – e é aí que deve estar a resposta para este tipo de doença – nós vamos ter muito menos situações encaminhadas para os serviços locais de saúde mental, para os serviços de psiquiatria, e, portanto, os serviços de psiquiatria vão ficar com mais recursos para as outras situações de doença, onde nós incluímos as perturbações psicóticas, as perturbações do humor de tipo bipolar, as depressões graves, a doença obsessivo-compulsiva, o stress pós-traumático, as perturbações do comportamento alimentar. Todas elas ficam com muito mais espaço e muito mais recursos nos serviços de psiquiatria.
V
Margarida David Cardoso: As assimetrias geográficas, sociais e económicas condicionam o acesso que uma pessoa tem aos cuidados, os tratamentos que lhe estão disponíveis, a probabilidade de ficar com mais ou menos défices, as chances de recuperação.
Um exemplo. Uma pessoa com uma doença mental grave (uma psicose esquizofrénica, uma depressão psicótica, quadros graves de catatonia e recusa alimentar, por exemplo), que já não responde a outro tipo de tratamentos, pode ser elegível para eletroconvulsoterapia. Vários psiquiatras descrevem-na com a mesma expressão: life saving, que salva a vida. Este tratamento induz, sob anestesia, estímulos elétricos doseados, dirigidos a determinadas zonas do cérebro. E quanto mais cedo for feito, mais eficaz é a recuperação anatómica e funcional do cérebro. Ora, uma pessoa no Alentejo ou no Algarve nestas condições, que vê o prognóstico agravar-se com o tempo, pode ter que fazer mais de 500 quilómetros para ir e voltar a Lisboa ou Setúbal para se tratar. Alguns doentes fazem-no, de ambulância, duas, três vezes por semana ou têm que ficar internados.
Afonso Homem de Matos: Há muito tipo de cuidados que parece que nós não conseguimos dar sem tirar outra coisa: “Olhe sim, tem este tratamento, mas vai ter que fazer 500 quilómetros. Olhe tem isto, mas vai … Não sei.”
Ana Samouco: Parece outro país diferente.
Margarida David Cardoso: Afonso Homem de Matos e Ana Samouco sentiam isto em Portalegre. Já Susana Sousa Almeida, no Porto, via pessoas dos concelhos vizinhos a não conseguirem suportar o custo da deslocação para a psicoterapia que, idealmente, lhes prescreveria.
Susana Sousa Almeida: Eu posso ter um hospital excelente cheio de psicólogos, se eu tiver o doente a 100 quilómetros e se o doente não tiver capacidade de se deslocar para fazer terapia, se tiverem de apanhar três autocarros e um comboio para vir à consulta, ou pior, pedir ao filho para deixar de trabalhar uma manhã para o levar ao hospital, é evidente que nós podemos ter tudo cheio de psicólogos e cheio de psiquiatras, mas não vamos ter doentes. E é indecente prescrevemos uma coisa que o doente não consegue pagar.
Margarida David Cardoso: A falta de acesso ao tratamento é um fator que potencia a doença…
Susana Sousa Almeida: Que agrava a adesão, sabota o tratamento e perpetua a sensação de impotência – “Nem para os meus remédios consigo…” E para nós médicos é frustrante, é uma dor de alma ouvirmos nos media, por exemplo, uma senhora com uma perda vital transitória e cheia de recursos dizer que saiu da depressão só com a força da mente ou porque foi a um senhor muito habilidoso que lhe deu umas mezinhas e lhe fez umas massagens, e depois ouvimos pessoas como os meus doentes oncológicos que se sentem profundamente invalidados e frágeis – pior – fracos, fracos de espírito porque não conseguem sozinhos sair daquela situação.
Margarida David Cardoso: E quando se olha para os mais novos, para a infância e adolescência, as assimetrias parecem gritar uns decibéis acima.
Margarida David Cardoso: Ia-lhe perguntar quantos pedopsiquiatria é que trabalham consigo na região do Algarve?
Pedro Dias: No Algarve, para além de mim, no Sistema Nacional de Saúde não trabalha, neste momento, nenhum pedopsiquiatra.
Margarida David Cardoso: Pedro Dias é o único pedopsiquiatra contratado para um hospital do SNS em toda a região do Algarve. Está a meio tempo: faz cerca de 25 horas por semana. Chegou ao Hospital de Faro em dezembro de 2018, depois de terminar a especialização em Lisboa. Após aposentações e saídas, está sozinho, desde janeiro de 2020. Desde então, os concursos abertos ficaram desertos.
Pedro Dias: Os concursos são inúteis. São concursos que dão acesso a um contrato de trabalho que não está equilibrado relativamente àquilo que é pedido ao profissional.
Margarida David Cardoso: Pedro Dias refere-se às 40 horas semanais de período normal de trabalho. Cerca de metade dessas horas são de trabalho programado (consultas, internamento, serviços na comunidade), marcadas entre segunda e sexta-feira, num máximo de oito horas por dia, a definir entre as oito da manhã e as oito da noite. Mas este horário tem que incluir também o trabalho em serviço de urgência, em cuidados intensivos e cuidados intermédios, que pode ser marcado para qualquer dia, a qualquer hora.
Pedro Dias: É algo de uma violência extrema e ninguém está disposto a abdicar dos seus sábados, domingos, feriados e noites a acumular um desgaste grande que depois inviabiliza qualquer estabilidade emocional para poder fazer bem o seu trabalho.
Não temos os médicos disponíveis para andar aos saltinhos. Isso acontece com os professores, na carreira dos professores, que andam aos saltos 10, 12, 15 anos até ficarem efetivos. Isso é desastroso para as crianças que elas ensinam, é desastroso para os próprios professores.
Margarida David Cardoso: Posso perguntar-lhe porque é que o Pedro decidiu ir para o Algarve e permanecer nesta vaga?
Pedro Dias: Porque a minha esposa é do Algarve. [Risos] Resumidamente. [Risos]
Margarida David Cardoso: Por falta de recursos hospitalares, Pedro Dias, o único pedopsiquiatra no SNS algarvio, é incapaz de dar resposta aos pedidos de consulta feitos pelos centros de saúde. Recebe apenas da rede pública hospitalar, maioritariamente das urgências de Faro e de Portimão. Este é um problema antigo que já em 2001 levou à criação de um projeto pioneiro de formação e supervisão das equipas dos centros de saúde do Algarve com o Hospital D. Estefânia, em Lisboa, uma das referências da pediatria no país.
Ainda assim, as situações mais complexas continuam a ter que ir para Lisboa, onde se fazem todos os internamentos e urgências. O mesmo acontece no Alentejo. A pedopsiquiatra Isabel Santos está no hospital de Beja desde 1992 e apenas durante quatro anos teve a companhia de outra pedopsiquiatra. Salomé Ratinho também está sozinha em Évora.
De novo, António Nabais, enfermeiro-chefe no hospital que recebe estes miúdos em Lisboa.
António Nabais: Sem equipas locais de saúde mental para a área da infância e adolescência, acontecem coisas muito bizarras, diria eu, em que nós, aqui na Estefânia, somos a única Urgência de Psiquiatria da Infância e Adolescência. E atendemos a ARS do Algarve, do Alentejo e de Lisboa e Vale do Tejo. Portanto, nós temos crianças e jovens que vêm à nossa urgência, em que vão ao hospital lá em baixo no Algarve; depois são transferidos para cá, é necessária uma ambulância e demoram quatro ou cinco horas a chegar cá acima; chegam aqui à urgência e podem necessitar de ficar à espera podem ficar mais duas, três ou quatro horas; podem necessitar de fazer medicação e ficar a aguardar o efeito da medicação para uma intervenção à posteriori; ao fim de duas horas, se não tiver uma resposta efetiva, a ambulância vai-se embora e, portanto, ficam em Lisboa; depois é necessário arranjar transporte para baixo, que se tiverem alta direta daqui não têm direito a transporte, têm que se desenrascar sozinhas para ir para baixo; se forem transferidas para o hospital lá de baixo, vai uma ambulância nossa. Quer dizer: para uma observação diferenciada nesta área, gasta-se um dia e isto tem despesas astronómicas.
Portanto, nós também já sabemos que quando chega alguém do Algarve, ou do Alentejo, ou de Tomar, nós tentamos agilizar para despachar as pessoas o mais rápido possível, para que continuem ainda a ter direito ao transporte.
Margarida David Cardoso: Fora das situações de urgência, a distância torna inacessíveis tratamentos mais diferenciados. No hospital de dia do D. Estefânia, por exemplo, há crianças e jovens a fazer terapia todas as semanas – alguns durante dois anos. Estão disponíveis pedopsiquiatra, psicólogo, enfermeiro, psicomotricista, terapeuta ocupacional. Os cuidadores também podem ter terapia familiar. Mas tudo isto só está disponível para quem se consegue deslocar ao centro de Lisboa sistematicamente.
E quando o internamento ou a urgência em Lisboa termina e é preciso que uma criança do Algarve seja vigiada no pós-alta, abre-se a excepção no restrito circuito de acesso à consulta pedopsiquiátrica de Pedro Dias: estes miúdos passam à frente numa enorme lista de espera para primeira consulta.
Pedro Dias: Há uma janela de intervenção para chamar os miúdos: para os casos considerados urgentes não deve ser superior a 30 dias. E estamos a falar de uma lista de espera que tem uma previsão de atendimento hospitalar de 12, 18 meses. E estamos a falar de um ano, um ano e meio, dois anos, às vezes.
E há muitos casos que deviam estar a ser geridos mensalmente ou quinzenalmente e são vistos de dois em dois meses, de três em três meses. Medicamos muito os meninos para eles se aguentarem minimamente em algumas situações. Mas não é obviamente a melhor forma de trabalhar. E correm-se alguns riscos.
Margarida David Cardoso: Um deles é o risco dos miúdos chegarem à adolescência com quadros mais graves e mais difíceis de intervir. Outro não tão imediato é o de se perderem dentro do sistema. Em particular, na passagem da pedopsiquiatria para a psiquiatria de adultos. Inês Homem de Melo, à data interna de psiquiatria do Hospital de Magalhães Lemos, no Porto, explica.
Inês Homem de Melo: Muitas vezes os doentes são seguidos pelos pedopsiquiatras até aos 18 anos, e depois têm alta e caem no fosso. Transferência é o pior cenário. É tipo: “Vai, leva este papel para o outro médico”. Portanto, não há uma comunicação direta pedopsiquiatra com o psiquiatra – o que é uma grande pena porque, caramba, perde-se imensa informação. A transição é uma coisa muito mais orgânica. Em alguns países até fazem a última consulta do adolescente já na presença do psiquiatra de adultos. “Então, este é o próximo. Já lhe contei a tua história toda.”
Margarida David Cardoso: No Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, existe, por isso mesmo, uma unidade para jovens dos 15 aos 25 anos. A transição para a maioridade coincide com grandes mudanças e é um dos picos de maior incidência dos primeiros episódios psicóticos. A codificação das doenças muda. O crescimento altera as formas como elas se manifestam e há inúmeras vezes em que os psiquiatras pressentem que pode estar ali a gerar-se uma doença mental grave, mas ainda não dá para perceber muito bem se sim, se não, e qual.
Inês Homem de Melo: Já evidencia aquilo a que nós chamamos os pródromos. Estas alterações de humor que o adolescente está aqui a mostrar isto cheira a doença bipolar…
Margarida David Cardoso: Mas ainda não é.
Inês Homem de Melo: Não é porque não dá porque a doença não começa… Raramente começa antes dos 18 anos.
Margarida David Cardoso: Esse ponto nevrálgico obriga os serviços a uma boa passagem de testemunho onde ainda se falha.
Inês Homem de Melo: Onde nós falhámos mais é nestes casos em que adivinha-se que vem algo de mais grave, o jovem tenha alta, o médico de família até encaminha para a psiquiatria de adultos, mas o jovem não sabe por onde vai, não conhece a cara do próximo médico, por vezes até passa de um hospital geral para um hospital psiquiátrico. “Deus me livre, eu agora vou-me enfiar num hospital psiquiátrico?” É um sentimento de insegurança. Não vai. Não vai.
Margarida David Cardoso: Meses ou anos depois, este jovem que teria pródromos de doença bipolar ou de esquizofrenia, por exemplo, reaparece nos serviços de saúde com um quadro de doença francamente instalado. O prognóstico, muito pior.
Inês Homem de Melo: Resultado: nós somos mais frágeis onde devíamos ser mais coesos que é aqui. A doença mental é a doença crónica da juventude. Não é a doença cardiovascular, não é a doença respiratória, não é a doença metabólica. A doença da juventude é a doença mental. O que põe um jovem em casa dias sem trabalhar? Depressão, ansiedade, doença bipolar, uma psicose, um surto psicótico. E o sistema parece que ignora.
Margarida David Cardoso: É complexa a orquestração de um plano que garanta que toda a gente está a trabalhar para o mesmo lado e ninguém se perde; que o tratamento farmacológico está em linha com a intervenção psicológica, com o que se passa em casa, na escola ou no trabalho, com as necessidades de quem cuida, com o que acontece nos cuidados no privado… Quem é que centraliza toda esta informação? Quem é que coordena?
Vários serviços, como o de Leiria e D. Estefânia, apontam para a figura do gestor de caso, o terapeuta de referência – algo que a Familiarmente, a federação que junta associações de famílias de pessoas com experiência de doença mental, exige há anos. Ouvimos várias vezes a comparação com o que foi possível fazer com o modelo de redução de riscos e minimização de danos, que guia a intervenção na área das dependências em Portugal. João Rodrigues, dos cuidados de saúde primários.
João Rodrigues: Um dependente de heroína ou de cocaína que vá a um centro de atendimento da toxicodependência, que vá a uma consulta vai ter um técnico psicossocial – só existem lá –, vai ter um assistente social, um psicólogo e vai ter um médico de família ou um psiquiatra. E a grande maioria destes profissionais tem formação especializada na área da terapia familiar, da intervenção sistémica, da terapia cognitiva-comportamental, em psicodrama, etc, etc, etc. Estamos a falar, no máximo, de 2% da população, não é? E nós precisamos de aproveitar estes recursos humanos altamente qualificados para poder intervir a nível local.
Margarida David Cardoso: Para toda a gente, diz João Rodrigues. Uma das revoluções seria um serviço social único por concelho, ou, nas grandes cidades, por freguesia. Transpor o conceito de enfermeiro e médico de família para outras profissões.
João Rodrigues: Este chavão de se dizer que nós centramos os cuidados no cidadão é uma ficção. Imagine que a Margarida estava desempregada e precisava do apoio de uma assistente social, vai à segurança social. Imagina que precisa de casa, vai ter que ir à câmara. A assistente social da câmara vai tratar da casa. Imagina que não tem dinheiro para comprar medicamentos porque tem doença crónica, vai ter que ir à assistente social da IPSS ou da Saúde. Nós devíamos ter um serviço social comunitário. Não há o assistente social do RSI, da Justiça, camarário, da Saúde, da IPSS. Não, só há um.
VI
Margarida David Cardoso: Falhas na prevenção e nos cuidados primários têm deixado assoberbados serviços de psiquiatria, que ainda demoram em tornar-se verdadeiramente comunitários. Há uma luta logística para tentar chegar mais cedo a quem ainda se chega tarde. Doentes com dificuldades de acompanhamento, consultas curtas e longamente espaçadas.
Um modelo ainda medicocêntrico tende a monopolizar cuidados no lado bio de um sistema que se desenhou para ser biopsicossocial. O social tem dificuldade em caber na saúde. A narrativa sobre o sofrimento psíquico é dominada pela psicofarmacologia, embora sejam várias as linhas orientadoras que defendem o tratamento combinado de medicação com mudanças no estilo de vida e psicoterapias validadas cientificamente para determinadas doenças – são particularmente recomendadas em perturbações de ansiedade e nas depressões. Nem médicos, nem enfermeiros, nem psicólogos saem dos seus cursos certificados para aplicar psicoterapias. Quem a quer fazer, paga pela especialização. São as grandes cidades que absorvem os cuidados mais diferenciados. A equidade no acesso perde-se na organização heterogênea dos serviços e em persistentes assimetrias regionais.
Então, vamos ao elefante que está connosco na sala há uma hora. É que, como consequência de tudo isto, mas não só por isto, medica-se mais.
Afonso Homem de Matos: Medicação é nós avaliamos, vamos ao computador, receitamos e o ajuste é feito em cinco minutos, se for preciso.
Miguel Bragança: É muito mais fácil prescrever um fármaco do que fazer uma psicoterapia ou falar com o doente ou chamar a família ou fazer uma terapia de casal.
António Gamito: Se houvesse psicólogos nos cuidados de saúde primários, provavelmente, este disparate de consumo de antidepressivos, de benzodiazepinas iria estancar um pouco. Porque há pessoas que não têm nenhuma… Não estão deprimidos, sequer. Levam um remédio quando poderiam ter outra coisa.
Susana Sousa Almeida: Se nós tivermos consultas de psiquiatria de 15 minutos e se dermos consultas de sete minutos nos centros de saúde, se o doente aparece desesperado e está lentificado e tem dificuldade em comunicar o seu estado de doença, ainda nem sequer, às vezes, acabou de contar o que se passa e já está a sair com uma receita.
Pedro Frias: Muitas vezes, com um processo psicoterapêutico, uma pessoa pode aprender a conhecer melhor a sua ansiedade, aprender a viver melhor com ela e, portanto, a precisar de menos fármacos, talvez, ou doses menores. Aí tens um reflexo claro da falta de respostas de saúde mental, sobretudo nos cuidados de saúde primários.
António Nabais: Grande parte das pessoas que têm problemas de saúde mental e dos jovens, em particular, é necessário desenvolver uma intervenção terapêutica não farmacológica.
Susana Pinto Almeida: Mas estas situações se forem atempadamente identificadas e orientadas para uma abordagem inicialmente não farmacológica, julgo que muitas pessoas acabam por estar a fazer um antidepressivo… porquê? Porque quando elas chegam ao médico, obviamente não há outra volta a dar que não instituir terapêutica. E mesmo que haja (eu pergunto), mesmo que exista, eu vou orientar aquela pessoa (eu, psiquiatra do Sistema Nacional de Saúde) vou orientar para quem?
Margarida David Cardoso: No próximo episódio, vamos à complexa questão da medicação. E abrimos a porta sobre o mundo desprotegido dos doentes mentais mais graves.
Teaser do próximo episódio
Monica Mateus: Eu tive uma pessoa que acompanhei, há relativamente pouco tempo, que esteve 15 anos a tomar a mesma medicação. Antidepressivos e ansiolíticos há 15 anos.
Rádio Aurora: Se não fosse a rádio e o teatro, eu não tinha nada. A rádio e o teatro é o que me preenche.
Nuno Viegas: Existe alguma estrutura vocacionada para reabilitação, neste momento?
Cláudio Laureano: Em Leiria, aqui não, aqui não.
Monica Mateus: Olha, a zona interior, esquece. Não existe.
António Bento: Estas pessoas podem andar anos ou mesmo décadas nas ruas que não se faz nada.
Ana Sofia Pinto: Há pessoas que estão há dois anos internadas em unidades de agudos. Três anos.
António Bento: Eu acho que as pessoas fazem todas o que podem, mas depois o sistema não funciona, não é?
Filipa Palha: Estamos a violar, todos os dias, Direitos Humanos.
VII
Bernardo Afonso: “Não sei quantos terão contemplado, com o olhar que merece, uma rua deserta com gente nela. […] Uma rua deserta não é uma rua onde não passa ninguém, mas uma rua onde os que passam, passam nela como se fosse deserta. Não há dificuldade em compreender isto desde que se o tenha visto. Uma zebra é impossível para quem não conheça mais que um burro. As sensações ajustam-se, dentro de nós, a certos graus e tipos da compreensão delas. Há maneiras de entender que têm maneiras de ser entendidas. Há dias em que sobe em mim, como que da terra alheia à cabeça própria, um tédio, uma mágoa, uma angústia de viver que só me não parece insuportável porque de facto a suporto. É um estrangulamento da vida em mim mesmo, um desejo de ser outra pessoa em todos os poros, uma breve notícia do fim.”
Citação do Livro do Desassossego, de Bernardo Soares
CRÉDITOS
Nuno Viegas: Acabaste de ouvir Serviços mínimos, o oitavo episódio da série Desassossego. Se quiseres ouvir já o próximo episódio e todos os seguintes basta fazeres uma contribuição mensal para o Fumaça. Quem nos apoia já tem acesso à série completa de 13 episódios. Vai a fumaca.pt/contribuir e ajuda-nos a ter a primeira redação profissional portuguesa totalmente financiada pelo público. Quem apoia o Fumaça também tem acesso a várias entrevistas extra, para explorar mais esta história.
Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso que fez a reportagem e investigação da série. O Bernardo Afonso editou o episódio e ainda fez investigação, compôs e interpretou a banda sonora original, fez a edição de som e sound design. É também ele que lê os excertos do Livro do Desassossego de Bernardo Soares. O Pedro Miguel Santos fez revisão de texto e reportagem. Eu, Nuno Viegas, fiquei com a verificação de factos. A Joana Batista criou a identidade visual. A Maria Almeida e o Ricardo Esteves Ribeiro, a estratégia de marketing. O Fred Rocha fez o desenvolvimento web. Todas estas pessoas participaram na construção coletiva da série. Podes encontrar em fumaca.pt a transcrição de todos os episódios, fontes, documentos e imagens relacionadas. Fazem ainda parte da equipa Fumaça: Danilo Thomaz e Luís Marquez.
A produção desta série foi parcialmente financiada por bolsas de apoio ao jornalismo de investigação da ARIS da Planície – Associação para a Promoção da Saúde Mental, do Sindicato dos Jornalistas, em parceria com a Roche e da Fundação Rosa Luxemburgo. Podes ver os contratos em fumaca.pt/transparencia.
Até já.