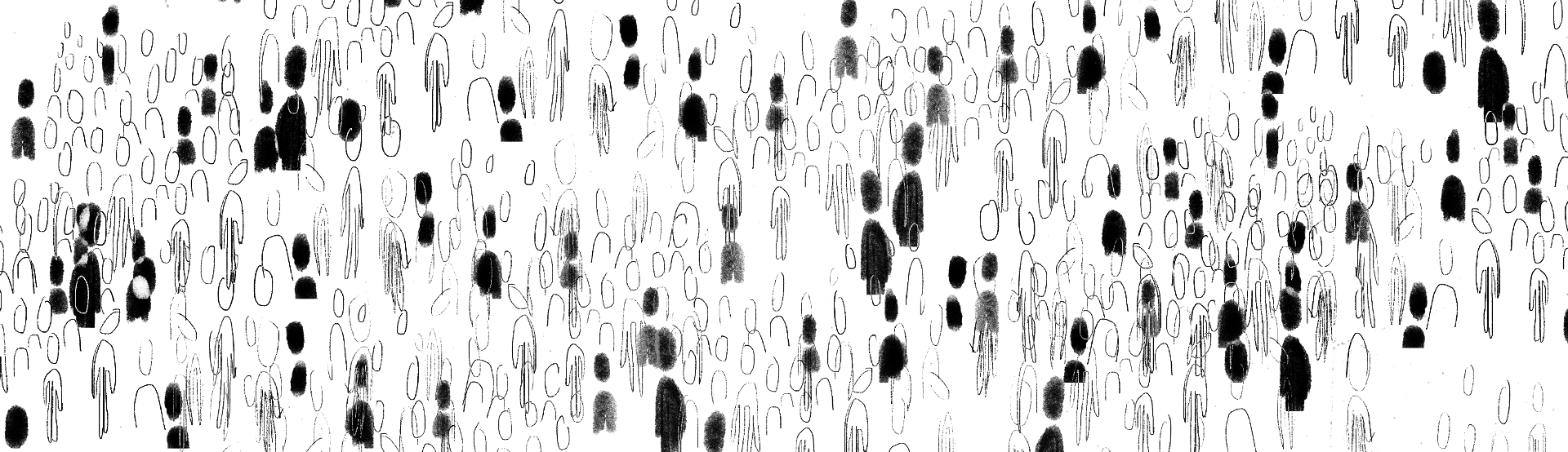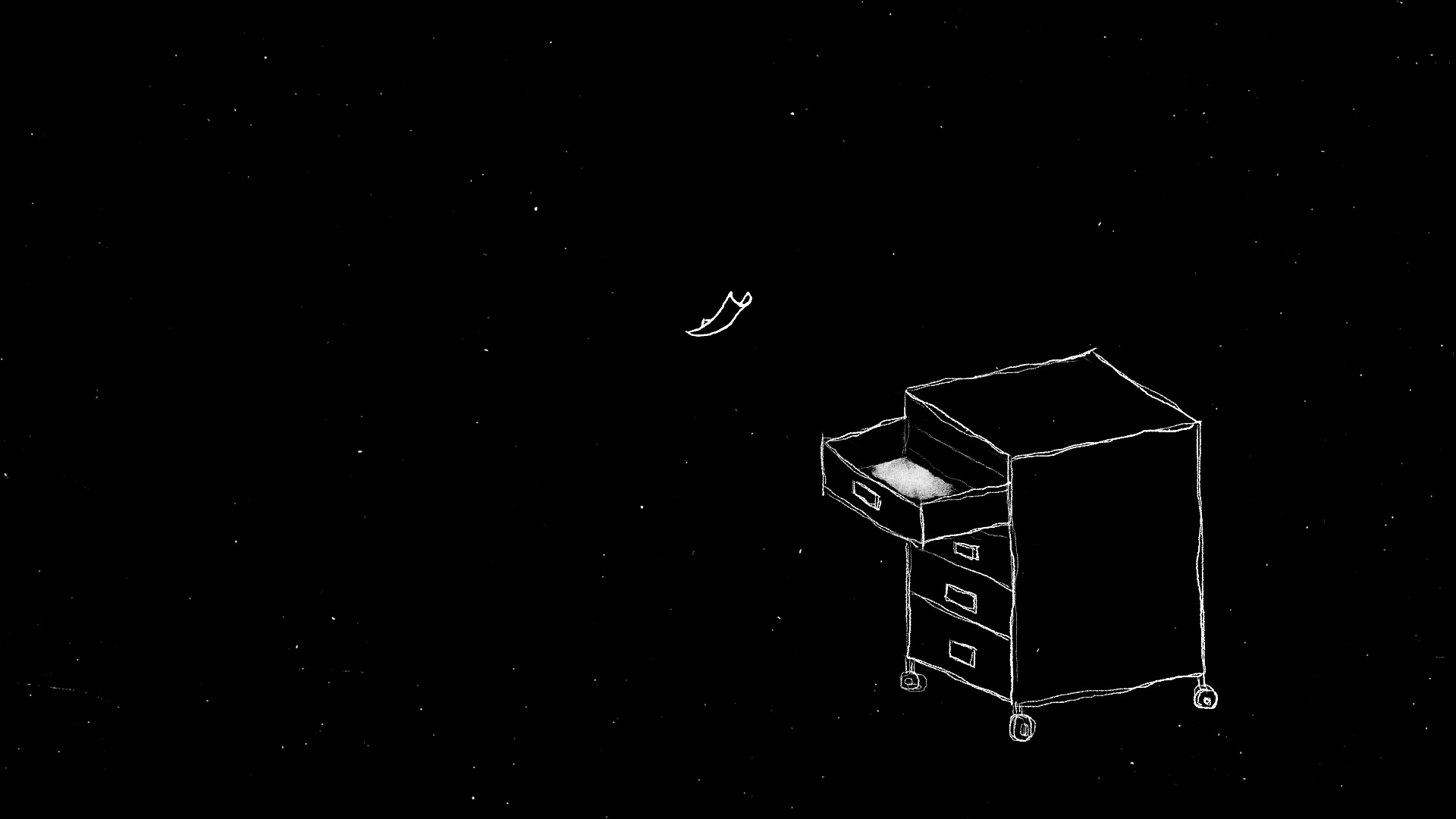Desassossego: Série Sobre Saúde e Doença Mental
Episódio 13/13
Ainda há bocado éramos felizes
26 Janeiro 2023
Ouve e segue o Fumaça
TRANSCRIÇÃO
Margarida David Cardoso: Este episódio é sobre suicídio. Sabíamos que tínhamos que o abordar de frente no fim de tantas horas a falar sobre saúde e doença mental. Há algum tempo que nos tinham desfeito o mito de que falar sobre a morte desta forma fosse algo que a potencia. Pelo contrário, falar de suicídio pode ser algo que o previne. Como dizia aquela frase da Rithika Pandey ao primeiro episódio desta série: “O que precisamos é de uma cultura onde a experiência comum de trauma leve a uma normalização da cura.”
Fizemos uma formação para jornalistas sobre prevenção do suicídio e entrevistamos vários especialistas – dois deles podes ouvir em fumaca.pt ou no canal Extras Fumaça, em qualquer aplicação de podcasts. Mas quando nos sentamos para escrever, sabíamos que havia outras duas pessoas que fariam este episódio acontecer. Que tínhamos que te tentar levar connosco para as salas onde falamos com elas para que também entendesses estas duas mulheres que perderam alguém próximo para o suicídio. São sobreviventes em estágios muito diferentes do luto. Que falam sobre ele de uma forma que, pelo menos para mim, é desarmante.
Mas claro que decisões como esta, que foram tomadas repetidamente a cada minuto de episódio que ouves, significam que outras tantas histórias e pessoas ficam de fora. Como qualquer pessoa que escreve, tivemos que fazer escolhas e assumir compromissos que têm sempre equilíbrios ténues. Esta série tem mais de 12 horas de áudio, mais de 250 páginas de guião. O mais doloroso deles teve seis versões. Demoramos muito, muito tempo até chegar aqui, sentindo, quase logo desde início, que já estávamos atrasados. E a verdade é que só pudemos ter este tempo todo para aprofundar, investigar, errar e refazer até achar o caminho certo, porque existe uma comunidade Fumaça, com mais de 1300 pessoas que, todos os meses, contribuem para que possamos continuar a fazer o nosso trabalho. Se chegaste até aqui e isto que fizemos fez sentido para ti, considera fazer uma contribuição mensal para que continuemos nesta montanha russa de escolhas e equilíbrios. Prometemos continuar a tentar traduzir histórias sobre desigualdades nestes longos episódios, na esperança de que as possas entender melhor. É isso que tentamos fazer todos os dias. Tens o link na descrição deste episódio e em fumaca.pt/contribuir toda a informação sobre a incrível Comunidade Fumaça a que te podes juntar com uma contribuição mensal. Espero ver-te desse lado e que possamos continuar a falar.
Já sabes que, se precisares, tens os contactos de linhas de apoio no nosso site. Obrigada por teres estado aqui há 13 episódios. Este é o último, que te aconselhamos a ouvir com auscultadores, e chama-se Ainda há bocado éramos felizes. Eu sou a Margarida David Cardoso. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça.
I
Bernardo Afonso: “Quando ontem me disseram que o empregado da tabacaria se tinha suicidado, tive uma impressão de mentira. Coitado, também existia! Tínhamos esquecido isso, nós todos, nós todos que o conhecíamos do mesmo modo que todos que o não conheceram. Amanhã esquecê-lo-emos melhor. Mas que havia alma, havia, para que se matasse. Paixões? Angústias? Sem dúvida… Mas a mim, como à humanidade inteira, há só a memória de um sorriso parvo por cima de um casaco de mescla, sujo, e desigual nos ombros. É quanto me resta, a mim, de quem tanto sentiu que se matou de sentir, porque, enfim, de outra coisa se não deve matar alguém…”
Citação do Livro do Desassossego, de Bernardo Soares
II
Carolina Oliveira: A minha mãe foi, durante muitos anos, com esta doença muito funcional. Ela levava a vida dela, tinha o trabalho dela, viajava. Portanto, era uma pessoa que não estava completamente desprovida de interesses, nem no estado depressivo a que ela chegou nos últimos anos – e que foram muitos anos, na verdade. Muitos, muitos anos. E por isso é que para mim quase que existe o menos doente e o mais doente, sabes? Havia oscilações, mas realmente os últimos anos foram muito maus mesmo.
Margarida David Cardoso: O sofrimento da mãe nem sempre é fácil de entender. Carolina Oliveira lembra-se dele surgir em brasa tinha ela oito anos, a irmã seguinte seis, a outra dois. O pai tinha morrido nesse ano. E numa sucessão de perdas a mãe foi sendo empurrada para um sítio de onde não conseguia sair.
Carolina Oliveira: Eram episódios assim mais curtos e talvez mais intensos, mesmo a nível de cansaço físico. Eu lembro-me assim muito dela estar muito deitada e não se sentir nas totais capacidades para cuidar de nós.
Margarida David Cardoso: A filha mais nova ficou por um período a cargo de uma tia. E, ao longo de anos, em particular na última década de vida, episódios cada vez mais prolongados foram-na interrompendo. A mãe deixou de conseguir corresponder e sentia-se marginalizada no trabalho, diminuída nas atividades que procurava para se ocupar. Pesava-lhe a forma como as pessoas a olhavam, como viam como o corpo lhe tremia – efeito secundário da medicação que tomava. Era demolidor quando a tentavam demover da tristeza, mostrando as coisas boas que tinha; quando lhe diziam que ela tinha tudo.
Carolina Oliveira: Porque ela não tinha nada, na verdade. Ela não conseguia aproveitar nada. E as pessoas não percebem. Mas como é que uma pessoa se deve sentir quando… em pouco tempo e não numa idade em que isso se justifique, fica completamente incapacitada intelectualmente. Porque a coisa dela era muito intelectual. Porque os remédios não a deixavam manifestamente diferente, mas ela sentia o pensamento super lento, muita falta de concentração, pronto, todos esses efeitos secundários dos medicamentos.
Margarida David Cardoso: Viu variadíssimos médicos, com alternâncias frequentes, e conheceu diferentes diagnósticos psiquiátricos. A depressão ganhou o rótulo de “resistente à medicação”. E a doença foi incapacitando-a.
Carolina Oliveira: Ela foi-se mesmo muito abaixo de formas diferentes. Mas começou mesmo a perder-se a pessoa que ela era. Há um desleixo a todos os níveis, que começa… Eu acho que começa mesmo num desleixo de tratamento psíquico e tratamento… E autocuidado, exatamente. E que depois… Não sei, houve retomas disso. Mas eu acho que nunca houve uma retoma para um estado assim que eu dissesse “Ah, é a mesma pessoa que era, é a mesma pessoa que eu conheci”.
Margarida David Cardoso: O que a mãe mais dizia era que tinha medo. Estar sozinha tornou-se “a maior fobia que existia”.
Carolina Oliveira: Era mesmo um medo de estar com ela. Era assim uma coisa tremenda. Não conseguia jantar uma noite sozinha em casa, tinha que estar alguma das minhas irmãs, se não ela tinha que ir a algum lado.
Margarida David Cardoso: A mãe foi acometida por outro medo: o de nunca conseguir sair da depressão.
Carolina Oliveira: Mas eu acho que isso se transformou numa verdadeira obsessão. Aquilo transformou-se numa coisa completamente viciada, um ciclo. Tanto que os últimos tempos de vida da minha mãe, os últimos dois meses, foram ótimos. A última vez que eu estive com ela, em julho, ela estava ótima – ótima comparando com o que foram os últimos dez anos. Só que quando ela voltou a ficar mal, perdeu completamente a esperança. Não sei. Foi uma coisa… Enfim. Não sei, nem nunca vou saber, infelizmente, o que é que aconteceu.
Margarida David Cardoso: A mãe de Carolina suicidou-se em agosto de 2021 aos 63 anos. Carolina, de 37, falava-nos cinco meses depois, no início de um processo contínuo para tentar fazer sentido do que aconteceu. Nesta fase, fala-nos desse luto recriando os vários passos do percurso terapêutico da mãe ao longo de quase três décadas. Percebendo como poderiam as coisas ser diferentes para outras pessoas.
Carolina Oliveira: Havia muito esta coisa de “Estou a fazer este tratamento, sinto-me melhor, vou parar o tratamento, parar completamente, parar de tomar os remédios, deixar de ir ao médico”. E, depois, isso começou a levar (porque isso eu não sei quantas repetições teve, mas teve algumas) a cada pior era pior. E, portanto, havia ali uma queda de estado de espírito mais forte em cada nova…
Margarida David Cardoso: Uma repetição.
Carolina Oliveira: Exatamente.
Margarida David Cardoso: Quando deixava de aparecer nas consultas, tampouco era habitual alguém a procurar para tentar manter o acompanhamento.
Carolina Oliveira: Normalmente, o que acontecia era que no início as coisas funcionavam. “Um milagre, aconteceu, uma combinação aqui de ansiolíticos e antidepressivos e estabilizadores de humor, tudo… funcionou.” E portanto, a minha mãe empatizava-se logo muitíssimo com o médico. E, depois, eu não sei explicar isto… Porque muitas vezes um tratamento que estava a funcionar deixava de funcionar. Eu diria que houve para aí três médicos que acompanharam a minha mãe de forma mais longa e que foram deixados num momento em que eles diziam “Se calhar isto é uma doença que a vai acompanhar para a vida”. A minha mãe nunca teve aceitação (que eu compreendo perfeitamente – aliás, nem ela, nem nós) que isto fosse uma coisa que pudesse ser a vida dela. Talvez porque nós tivéssemos muito mais consciência do sofrimento em que ela… Nem tanto do sofrimento, mas das condições em que ela vivia – muito mais do que os médicos.
Margarida David Cardoso: Quando se esgotaram as opções em torno da medicação, a mãe de Carolina fez electroconvulsivoterapia e estimulação magnética transcraniana. Tentava quase tudo.
Carolina Oliveira: E fez imenso homeopatia, e fez imenso acupuntura, e várias coisas – iogas e meditação. Ela era aberta a isso tudo. Embora não acreditasse. Ela, a certa altura, estava disposta, mas sempre na via clínica. Ou seja, se a Champalimaud, por exemplo, a considerasse elegível para um tratamento com vários alucinógenos, ela provavelmente seria uma candidata, por ela. Mas não uma coisa de “Vamos parar e fazer outra coisa”. Eu acho que isso também, honestamente… Eu pergunto-me muitas vezes se isso poderia ter ajudado.
Margarida David Cardoso: O que sempre ficou de fora foram as psicoterapias. Carolina diz que nunca ninguém insistiu para que o fizesse.
Carolina Oliveira: Era sempre via farmacológica. A minha mãe tinha uma coisa muito de “O que me cura são os remédios, portanto, se houver aqui uma combinação de remédios que resolve, eu vou ficar bem; se não houver, eu não tenho como ficar bem”. Ela sempre pôs tanto as causas da depressão fora, como a cura fora. Sempre. E ela não tinha nenhuma aceitação do contrário. Ou seja, se nós sugeríssemos… Sei lá, que havia alguma questão (e havia) de, por exemplo, relação com a minha irmã mais nova, alguma culpa em relação à minha irmã mais nova, não a ter acompanhado tanto (essas coisas todas, as coisas que depois se tornavam obsessivas com a minha mãe)… Porque ela falava muitas vezes connosco, inclusive nestes termos: “Se eu decidir morrer, vocês tomam conta.” Nunca tentou tratar essa parte muito obsessiva do comportamento, nunca. Nem nunca os médicos encaminharam para isso. E nem a ela, nem a nós – que é uma coisa que eu também acho absolutamente impressionante. Nunca ninguém absolutamente se interessou pela saúde mental de quem estava à volta – e, sobretudo, de pessoas muito novas, que nós éramos na altura. Nunca.
Margarida David Cardoso: Mas, nos últimos momentos de recaída da mãe, o que Carolina mais procurou, e nunca encontrou, foi um lugar de reabilitação adequado.
Carolina Oliveira: Onde ela pudesse estar, onde ela pudesse conhecer pessoas com problemas que ela considerasse semelhante que eram os momentos em que eu a via assim mais aliviada.
Margarida David Cardoso: O que a mãe fazia era submergir numa ansiedade de coisas para fazer: de programas, de voluntariados, de oficinas. Carolina chegou a falar da hipótese de contratar alguém que a acompanhasse uma parte do dia. Porque tinham recursos financeiros para isso. Como para bancar as consultas de psiquiatria no privado, a 100 euros, às vezes todas as semanas. Mas nunca encontraram o sítio ou a resposta, entre as que existem, que lhes parecesse certa. A função que procuravam é desempenhada, por exemplo, pelas unidades socio-ocupacionais dos cuidados continuados em saúde mental.
Carolina Oliveira: Eu acho que a única coisa que nós as três víamos que a poderia ter ajudado nestes últimos anos era, de facto, um bom lugar para estar, onde ela pudesse melhorar de facto. Ou seja, se quiseres ir fazer, sei lá, uma coisa à base da ayahuasca ou plantas para não sei o quê, podes e vais e ficas lá durante três meses, mas tens que largar tudo o que estava; se quiseres ir para retiros fora… Mais uma vez: para quem pode. Podes e vais. Mas nunca é uma coisa que seja minimamente conciliável com um acompanhamento médico em ambulatório. Não é! E isso é muito chocante, eu acho.
Margarida David Cardoso: O processo de luto está cheio deste tipo de perguntas – “E se?” E Carolina vai-se lembrando em particular daquelas que tinha sobre liberdade, sobre o direito da mãe a decidir. Quando a doença a foi incapacitando – ao ponto de haver momentos em que todas as suas conversas eram em lágrimas – teria condições para decidir por si?
Carolina Oliveira: É engraçado porque eu pensava muito isso e agora veio-me outra vez à cabeça que é… Eu a certa altura tinha uma sensação como tenho com os meus filhos com a minha mãe, que é: eu estou a pedir a uma pessoa que não consegue decidir uma opinião. Só que enquanto que com os meus filhos eu posso voltar atrás e decidir, com a minha mãe não podia.
Margarida David Cardoso: A doença mental anda muitas vezes de mãos dadas com a ambivalência e a incompreensão de parte a parte.
Carolina Oliveira: E eu lembro-me de dizer várias vezes “As coisas que a minha mãe me diz e o que eu vejo são de tal ordem que se fosse eu, já não estava aqui”. Eu dizia muitas vezes isso. Porque eu sentia mesmo que aquilo era um… Quer dizer, eu não sei se sentia ou se eu ficava sempre na dúvida “Acredito ou não acredito na minha mãe”. Também há essa coisa de quem convive. Tipo, quanto é que esta pessoa está a descarregar em cima de mim? Eu acho que por haver sempre essas dúvidas é que nunca se consegue também tomar decisões muito drásticas. E quando eu digo drásticas, é até “Vamos largar a psiquiatria e fazer não sei o quê”. É muito complicado mesmo.
Margarida David Cardoso: Em abril, a mãe fez uma tentativa de suicídio. Esteve três dias internada, foi vista pela psiquiatria no último dia e encaminhada para a consulta que já tinha marcada com o seu psiquiatra. Aí ele sugeriu a transferência para um hospital público, perto de casa – o que se concretizou – e um internamento mais prolongado – o que não chegou a acontecer.
Carolina Oliveira: A minha mãe não queria e as minhas irmãs e eu não estávamos dispostas a interná-la coercivamente nos lugares que existem. Nós estivemos sempre de acordo com isso. Embora, como é óbvio, nós nunca achássemos que a minha mãe fosse fazer isto. Enfim, mesmo assim acho que há uma paz de nunca ter feito… Há uma paz de “Houve liberdade sempre”. As condições de vida tornaram-se insuportáveis mesmo e o medo… Porque a minha mãe dizia mesmo “Eu tenho muito medo”. Ela usava mesmo esta expressão. O medo de viver era maior do que o medo de morrer. Aquilo foi mesmo… Foi uma decisão. Nós estamos a falar de uma pessoa que me liga todos os dias a dizer que quer ir para a Suíça fazer eutanásia.
Eu não sei… Não sei mesmo, não vou nunca saber, infelizmente, se ela achou que eu seria capaz de ajudá-la. Porque eu sei que ela depois passou os últimos – sei lá – dez dias de vida a ligar-me todos os dias com esse assunto. A dizer que vivia numas condições de medo horríveis e a chorar, e era assim uma coisa… E a dizer: “Tu tens mesmo que me ajudar, nós temos que ir, tu disseste que me ajudavas.” E é verdade. Eu, de facto, percebo completamente… Tenho a certeza que nunca senti isso. Mas eu podia-me empatizar bastante com o sofrimento. E, portanto, eu, em certo momento, disse-lhe, de facto, e eu acho que talvez eu estivesse mesmo disposta. O problema é que tu nunca sabes, nessa doença, o que é que vem. Eu nem sei se isto é muito chocante, acho que não – para mim não é. Mas, quer dizer, não é um acordo tão estranho para mim alguém fazer “Olha, se eu estiver nestas condições… Se eu estiver nestas condições, não quero mais”. É quase como fazer um testamento vital a alguém.
Mas o problema é esse: eu a certa altura comecei de facto a investigar as coisas na Suíça, só que nem isso é permitido. Porque a depressão não está abrangida nas definições de uma doença terminal. E, portanto, eu a certa altura tinha estas conversas. Eu dizia: “Mãe, isto envolve um pedido ao Tribunal Europeu, isto não é o que estamos a pensar e devíamos pensar mesmo nestas coisas.” E eu estava a ver umas coisas para ela ficar internada. Eu até já estava numa de ir também. Aquilo, olha, foi assim uma coisa super, super dramática pelo estado em que ela estava. E por todos os motivos, não é? Porque ela acabou por fazer isso.
E eu durante muito tempo, depois, e às vezes ainda penso “Eu, se calhar, devia mesmo era ter ajudado”, sabes? Será que eu seria mesmo capaz? Ela não precisava estar sozinha a fazer uma coisa destas. É horrível esse sentimento. Mas, pronto, também é horrível pedir a alguém. E enfim. Dentro do que é possível estar, eu acho que, apesar de tudo, talvez seja mais fácil conviver com isso do que conviver com ter participado. Não sei. Não sei. É outra coisa que eu não posso saber, mas sim, é um bocado aterrorizante essa coisa de uma pessoa como a minha mãe (que não estava sozinha para nada, que não conseguia fazer nada sozinha), ela conseguiu. E estava decidida.
E é engraçado porque a minha irmã do meio dizia muitas vezes que… quando nós estávamos a arrumar as coisas dela ela dizia que tinha esperança de encontrar alguma coisa escrita. Eu, pelo contrário, acho que ela não tinha mais nada, mesmo, para dizer. Enfim, é muito triste mesmo.
Margarida David Cardoso: Carolina acredita que as pessoas desistem, não da vida, mas das condições em que vivem quando não têm qualquer esperança de que algo mude.
Carolina Oliveira: Eu acho que ela chegou a essa coisa: “Eu tenho mais medo de viver assim do que de me matar.” Eu acho que nos foi mais fácil aceitar por causa disso. Claro que estás sempre a perguntar-te: “Poderia ter feito mais alguma coisa? Podia ter feito melhor?” Eu, por exemplo, tenho muito essa questão de “Eu não fui capaz de lhe dar afeto”. Que eu acho que é uma coisa muito importante. A nossa relação não permitia. Tipo, havia muito amor mas não… E eu acho que isso talvez seja um dos últimos confortos assim de uma pessoa que está, realmente, muito desesperada, sabes? Não conseguia, não… Não havia condições para mim. E, portanto, lá está, eu estou-te a dizer isto de uma forma que não é preocupante, mas eu às vezes sinto isto de uma forma que é preocupante para mim. Lá está, depois entra a questão da racionalidade do discurso, não é? Isso, para mim, é uma enorme dificuldade. Por exemplo, pensar nisso muitas vezes é muito duro.
Mas uma coisa que acontece muito, é que as relações se degradam muito. Muito cedo houve uma certa inversão dos papéis muito… Eu tratava de coisas dela. Tratava dela, as minhas irmãs também. E era muito mau. Muito. Quando a minha mãe estava mal durante muito tempo é tu estares a ouvir uma pessoa nesse discurso viciado o tempo todo. E a minha mãe tinha muita coisa “E vou ficar melhor? E vou ficar…” Pergunta-te isto, tipo, 20 vezes por dia. Tu vais almoçar fora e estás com a tua mãe a chorar o tempo todo. Estás com os teus filhos, está a chorar.
Se eu pensar assim “O que é que me custa nisto?” É, por exemplo, quando eu vejo algumas pessoas a falar dela, pensar assim: “Eu não pude minimamente aproveitar esta pessoa.” Eu não conseguia ter uma conversa leve com ela. Porque a doença foi contaminando as coisas… Essa coisa de pensares… Ou, então, olhares para trás e pensares: “Eu olhei tanto tempo para esta pessoa como uma pessoa fraca, sabes, e agora não consigo mesmo ver fraqueza nenhuma nela.” Ela tentava tudo… Mesmo que fosse para um lugar onde não conseguia fazer alguma coisa porque estava com a mão a tremer, ia. Tipo, eu não ia, provavelmente, sabes… Eu, eu mesmo, provavelmente, teria acabado com tudo muito antes… Claro que isto é muito mais complicado do que é. Mas até por questões de fé: a minha mãe era uma pessoa com muita fé e, portanto, acreditava também nisso. Tinha muita coisa de “Vou pedir, vou não sei quê…” Eu, como infelizmente não tenho tanta, se calhar tinha menos recursos. Ela tinha mais recursos. Mas, lá está, até nisso ela era uma fortaleza.
Margarida David Cardoso: Nesta altura, cinco meses depois da morte da mãe, o luto não parecia algo inultrapassável para Carolina. Teve várias perdas ao longo da vida. A da mãe trouxe foi mais perguntas e mais dificuldades em manter as narrativas que conta a si própria para se entender. Procurou ajuda especializada quando deixou de conseguir dormir, e deu os primeiros passos para se livrar do trauma que a psiquiatria se tornara para ela com o acumular das frustrações. Talvez lhe faltasse encontrar a pessoa certa ainda, dizia.
Carolina Oliveira: Agora tenho uma narrativa, às quatro da manhã tenho outra narrativa, estás a perceber? Não sou muito… Acho que me ajuda a consciência, ter a consciência das coisas, e ter consciência até de que faço isso comigo mesma. Porque isso é uma sabotagem. Quando eu já tenho o problema completamente enquadrado e resolvido, recuo para me massacrar, não sei. Mas sim, ter a consciência disso ajuda-me. O tempo… O tempo não sei se ajuda. Eu acho que vou passar anos nisto. Ao contrário do que aconteceu com as outras mortes que não foram por suicídio, eu acho que vou passar anos em coisas tipo: às vezes vou pousar o telefone (imagina, às nove da noite) e depois penso “Ah, não posso pôr em silêncio que a mãe ainda me liga”. Tenho muitos reflexos desses.
E eu tenho uma coisa que também me ajuda imenso que é: eu choro imenso. E, portanto, como choro imenso, eu choro até ao extenuamento, mesmo [risos]. Ainda bem. Porque livro-me um bocado das coisas. Tenho muitos bons amigos com quem falar e pessoas que me entendem e pessoas com quem posso falar sem pudor e sem preocupações, sabes? Não sei. Acho que tenho uma rede que me ajuda muito. Se calhar também devia procurar mais psicoterapia e talvez psiquiatria. Se há uma coisa que eu tenho mesmo que ultrapassar, é o medo…. Porque, lá está, a minha mãe diagnosticava-se como medo, que é horrível. E o facto de eu me encontrar triste (que às vezes nem é triste), um dia, e pensar “Tenho medo de ficar em depressão”, é ver-me exatamente no mesmo lugar onde ela esteve, sabes? É tremendo, é uma coisa que não pode ser.
Margarida David Cardoso: Carolina percebeu com o tempo que a maior parte dos casos da psiquiatria não são como o da mãe; que muitas, muitas pessoas vivem muitos anos e vivem bem. Mas o outro lado da moeda também pode ser verdadeiro, disse-lhe um dos antigos psiquiatras da mãe. “Infelizmente, há depressões que não têm cura.”
Carolina Oliveira: Que era o que a minha mãe achava que lhe ia acontecer, que ia viver muitos anos eternamente naquela condição. Ele disse-me isso e foi super importante. Eu noto que se pessoas que não me conhecem bem, que não estejam muito nisto, e que me façam perguntas, às vezes acham que eu falo de alguma maneira leve. Não é leve, mas é… Eu, às vezes, até penso: “Estas pessoas olham para mim como se eu ainda não tivesse percebido bem o que é que aconteceu.” E até me pergunto se será que eu percebi [risos]. Mas eu acho que não tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com essa aceitação, mesmo. Espero que sim porque senão ainda tenho um caminho muito mais longo pela frente. Mas acho que parece impossível à pessoa que não está dentro disto aceitar uma coisa destas. E também compreendo, compreendo perfeitamente. Compreendo que não posso dizer a uma pessoa que está em cima da mesa ajudar alguém em morte assistida. Não posso dizer isto muitas vezes porque não se percebe.
Margarida David Cardoso: Infelizmente, vai haver sempre alguns doentes que nos escapam, afirmou a psiquiatra Susana Sousa Almeida quando a entrevistamos. Não controlamos todas as variáveis, O suicídio é o maior calvário de um profissional de saúde mental, diz. Pelo menos seis em cada dez pessoas que se suicidam têm sintomas de uma doença mental; há estudos que apontam para 98%. Em Portugal, os registos, largamente descritos como subestimados, apontavam para 952 mortes desta forma, em 2021. Cada suicídio, estima-se, deixa pelo menos quatro sobreviventes – pessoas que sofrem muito com essa morte. Podem ir até 17. São números que contam apenas as pessoas que se relacionavam diariamente.
AVISO
Ricardo Esteves Ribeiro: Olá. Uma nota: tens em fumaca.pt, na transcrição deste episódio, o contacto de linhas de apoio psicológico para o caso de o que estás a ouvir mexer contigo. Se estiveres em perigo, telefona ao 112. Regressemos ao episódio.
III
Alexandra Lameiro: Eu tenho imensas coisas escritas, porque na realidade já passei por dois suicídios. Como foram em diferentes fases da vida… O primeiro eu tinha 16 anos. Foi uma tia minha. Ela, no dia de Natal, decidiu juntar a família. Portanto, uma amena cavaqueira e que pronto, acabou por fazê-lo. E depois, então, com aquele que foi meu marido. Um amor que tem naturalmente sempre um lugar muito especial na minha vida e no meu coração. A minha vida continuou. Mas, a certa altura, eu acho que há um antes e o depois, e realmente terá de ser assim. Nós não vamos conseguir nunca ficar iguais. As nossas peças não são, as peças do puzzle que desencaixar são todas e que depois precisamos de tentar perceber onde é que elas andam. Se calhar não vamos conseguir colocá-las todas como estavam, porque o tempo é alterado, a cronologia das emoções também. Há, de facto, um antes e um depois.
Margarida David Cardoso: Esta foi a última entrevista que gravamos para esta série, em outubro de 2022, e é a última que vais ouvir. Alexandra Lameiro fala até ao fim deste episódio, praticamente sem cortes, tal e qual como nos falou. É tradutora, estudante de Psicologia, e voluntária na associação Sobre Viver depois do Suicídio. Fundada em 2021, trabalha no combate ao estigma, na prevenção e no apoio aos sobreviventes durante o processo de luto. O de Alexandra leva nove anos.
Alexandra Lameiro: Foi na data em que nós fazíamos aniversário de namoro da relação. Foi em 2013. Em julho. E eu recebo a notícia através de um SMS e eu li que a pessoa se tinha suicidado. E eu não queria acreditar porque… Portanto, eu solicitei o divórcio, porque a certa altura… Ele tinha comportamentos muito incoerentes. Eu nunca coloquei em causa que ele me amava. Eu nunca pensei, por exemplo, que ele me pudesse agredir. Nada disso. Mas muitas das vezes eu via comportamentos que… Como se estivesse completamente, profundamente estabilizado. Eu não podia estar, portanto, no meu trabalho… O meu trabalho implicava muitas deslocações, aliás. E chegou ao ponto de rutura.
Eu terminei a relação não porque eu tenha terminado de sentir amor. Não. Eu continuava a amá-lo, mas eu não conseguia lidar com todas as características, com muitas coisas que depois, na altura, aconteceram. E houve um dia em que realmente eu disse que tínhamos que parar. Eu não sabia o que iria ser o futuro, mas sabia que não poderíamos continuar juntos. E veio o divórcio. Nós continuamos a falar um com o outro. A certa altura havia uma saudade, porque eu passava por locais, eu passava por ruas e as ruas parecia que tinham frases. Parecia que as próprias ruas tinham o perfume dele. Lembrava-me de momentos bonitos e únicos nas nossas vidas.
E a certa altura eu começo a receber SMS, onde ele referia que não queria continuar a viver se fosse para viver sem mim, que preferia não viver. Eu disse-lhe sempre que nós não sabíamos o futuro. Eu não lhe poderia dar esperança de algo que eu não conhecia, mas que possivelmente que ele teria de procurar uma ajuda, um apoio, e que ele não dissesse isso, porque eu não valia essa circunstância.
Houve uma tarde que me recordo como se fosse hoje, talvez dois dias antes. Ele foi ao médico. O médico ligou-me a pedido dele e disse-me que era muito importante eu ter uma conversa com ele, deslocar-me àquela aldeia que dista uma centena de quilómetros daqui da Póvoa. E eu disse “Não, desculpe, não faz sentido”. Eu recebia mensagens duas, três, quatro da manhã… Num dia, eu recebi 72 mensagens e eu própria estava a entrar num colapso, porque eu não percebia. Eu interpretava tal situação como um manifesto de perseguição. Até que bloqueei o número. Entretanto, dois dias depois, de manhã, recebo um SMS. Os SMS eu continuava a receber. Desbloqueei o número. Recebo uma chamada onde ele me disse que não fazia sentido e que já tinha comprado um determinado tipo de acessório, e queria fazê-lo, e que me amava muito. E que a vida sem mim não fazia sentido e queria provar-me o que acabava de dizer. E eu disse-lhe que, como ele devia de imaginar, eu também o amava. O que acontece é que foi a nossa última conversa. E depois, no dia a seguir, julgo que por volta das sete da manhã ele é encontrado, portanto, numa situação já cadáver.
E eu recebo a tal o tal SMS de forma muito, muito fria. Sabem que a primeira coisa que me passou pela cabeça foi “Eu sou a culpada do que está a acontecer. Eu não presto. Eu devia ter voltado. Eu não devia me ter divorciado”. E durante muito tempo senti culpa. E nos primeiros tempos pensei em… Não tenho ideação suicida, mas pensei muito concretamente em deixar de existir também. Não sabia como é que havia de fazê-lo. Tinha vergonha. Não conseguia enfrentar os pais, o irmão, os familiares e não conseguia enfrentar também os meus familiares. Deixei de frequentar a aldeia, com quem tenho raízes, familiares e amigos. Eu não me sentia eu. Naquela altura tudo se resumia “A minha missão de vida, ou seja, foi… Eu nasci para prejudicar uma pessoa que eu amei”. E, então, entendendo que eu não podia fazer o mesmo, porque quando o meu pai faleceu, em 2011, eu prometi-lhe que, por muito cruel que um dia o destino pudesse ser, que eu iria sempre encontrar uma forma de sobreviver, digamos assim… E, então, naquele dia eu disse “Não, não vou fazer isto”. Tem de haver um caminho. Eu tenho que conseguir sobreviver à queda. Eu tenho que falar com alguém.
E duas coisas que eu precisei logo naquele momento: encontrar-me. Perceber onde é que eu estava: o caminho, qual é o caminho? Porque é que eu me sinto tão culpada? O que é que aconteceu? Ainda há bocado éramos felizes. O que é que aconteceu? E tinha muitas perguntas. Aquilo que eu não sabia é que não é suposto nós termos as respostas. Eu aprendi, aprendi e compreendo que, de facto, todas as perguntas que que nós possamos fazer. E que é legítimo porque todas as emoções têm legitimidade de acontecerem. Eu não tenho essas respostas àquelas perguntas que eu fiz, àqueles anos atrás. E vivo hoje passado nove anos serena. Serena, porque o amei muito. E porque o Bruno não é… Não se resume ao suicídio. O Bruno era um ser humano fantástico, incrível. A melhor forma que eu tenho para homenagear um homem que eu amei – e que fez parte da minha vida e que fará sempre – é falar dele, como era bom viver com ele, como era bom estar com ele. E que há sempre um caminho de esperança. A nossa cicatriz fica sempre cá. Sempre. Ela não sai. Ela existe dentro do nosso currículo emocional. Faz parte.
Houve muitos dias na minha vida em que eu… Achava que não conseguia sair daquela roda dentada. Muitos dias eu acordava a pensar e pensava que era um sonho. Era uma coisa tão, tão irreal para mim. E eu achava que que não, que eu qualquer dia eu iria acordar e as coisas iam estar no devido lugar. E eu iria acordar e ele iria acordar-me e darmos os bons dias um ao outro.
Nós tínhamos muitos projetos e, quando o Bruno morre, eu decidi, depois de algumas sessões com apoio técnico de saúde mental, continuar. E agarrei-me à vida, à esperança, à cor da esperança que é aquilo que faz a diferença entre o dia bom e um dia menos bom. Eu recordo-me que eu recorri a muitas estratégias, nomeadamente, eu escrevia-lhe cartas. E há um dia que, sou-lhe sincera, fui ao Boticário e comprei o perfume dele. E cheirava-o. De certa maneira, queria lembrá-lo. Nunca o quis esquecer. E lentamente consegui reconstruir o meu puzzle de vida, já sem a presença física dele. Quando passo o dia do aniversário, é de uma maneira diferente. Não significa que eu não me emocione ao falar do Bruno. Claro que sim. E sempre, sempre acontecerá.
Sou uma pessoa católica, portanto acredito em Deus. E tudo isto, tanto a ciência social humana da psicologia e Deus, digamos, ajudaram-me, com todos os seus mecanismos, a reerguer-me.
Eu procurei essa ajuda passado mais ou menos um mês, entre muitos pensamentos extremamente nefastos, portanto, que já me tinham ocorrido. Eu fui a certos locais, eu tentei fazer e tomar balanço para ir a certas circunstâncias, mas nada daquilo me fazia sentido. Eu saí duas vezes de casa com um determinado tipo de pensamento e cheguei ao local… Ou eu encontrava um pássaro, ou eu encontrava, enfim, qualquer coisa que me distraía… E, muitas das vezes, eu procurei no mar a calmaria. Mesmo que as ondas fossem muito agitadas, eu sempre encontrei no mar algo que me acalmava.
E, então, as estratégias indicadas, uma vez que eu gostava muito de escrever e de transpor para a palavra escrita os meus sentimentos, as minhas emoções… Sabe aquele cliché de transformar a dor em amor? Então, produzia muito efeito em mim e eu arranjei uma caixinha de madeira. Essa caixa… Quando eu senti que era a hora, eu enterrei-a num pinhal, que é meu, nessa zona, curiosamente onde uma vez passámos. É constituída por imensas cartas. Eram cartas que eu dirigia dizendo como tinha ficado tudo, como os pais tinham ficado. Inclusivamente, lembro-me de, na primeira carta que lhe escrevi, eu estar extremamente zangada com ele. Muito revoltada. Perguntava-lhe porque é que ele tinha feito isso comigo. Se alguma vez eu lhe tinha feito mal para ele me fazer tanto mal a mim. Porque eu ainda não sabia que efetivamente o que era o suicídio.
E será sempre um grande mistério, aquilo que o desencadeia. Mas a ciência já vai dando algumas respostas, mas não conseguimos chegar a uma conclusão pura. Porque o suicídio… Muitas vezes, a pessoa diz “Eu vou fazer isto” e é completamente desvalorizado. Porquê? Porque há um estigma que diz “Quem avisa, não comete”. Pois, mas o Bruno avisou-me. E eu avisei e informei quem eu achava que tinha. Mas, na realidade, é como se nós não quiséssemos acreditar que pudesse ser possível.
E, então, ainda voltando à minha caixinha era uma caixa muito simples, de madeira, muito simples e que, portanto, aglomera um conjunto de cartas. E desenhei mesmo nas cartas, um selo. Guardei lá algumas coisas que ele me tinha dado – inclusivamente um livro que ele me ofereceu e que eu gostava muito. E o perfume. E quando o perfume terminou, eu enterrei a caixa. Sei perfeitamente onde ela se encontra enterrada. Não foi simbolicamente para dizer que o assunto está encerrado, mas, sim, a partir do momento em que eu comecei a conseguir perceber que faz parte das nossas vidas. E hoje em dia consigo falar com serenidade.
A minha saudade não tem dor. Eu percebo o que aconteceu. Claro que depois temos um conjunto de circunstâncias, até do ponto de vista cultural, onde aconteceu. Uma aldeia, portanto, as pessoas conhecem se todas umas às outras. E eu lembro-me de ter ido a um café da zona e houve uma senhora que me disse “Ai filha, tu tens uma cruz para o resto da vida, já viste? Foste culpada por tudo o que aconteceu”. E eu, nessa altura, lembro-me de sair disparada do café a chorar, e a desabar, e trazer o carro para Lisboa sob uma ansiedade, um querer fugir de mim própria. Porque é muito feito de altos e baixos. O acompanhamento é feito até hoje. Eu não vejo a minha vida sem um psicólogo ao meu redor, com quem se vão estabelecendo laços de muita confiança com o passar do tempo, onde existe um profundo conhecimento sobre nós próprios.
E realmente só um técnico de saúde mental – neste caso, os psicólogos – conseguem resgatar-nos, muitas das vezes, onde às vezes as pessoas ingenuamente quase que nos calcam e nos colocam dentro de um buraco muito difícil – isto em termos metafóricos, claro. E eu ouvi coisas, claro que para mim não faziam sentido, porque não era verdade… Porquê? Porque eu o amava, sim, mas lá está: eu não consegui perceber o que é que era aquele conjunto de comportamentos que nunca se tinham manifestado. E eu agora, há uns anos atrás, recordo até pequenos detalhes de certo tipo de comportamento que já evidenciava, de facto, que havia ali uma grande angústia, talvez subjacente alguma depressão, não sei… Mas algo que efetivamente pudesse vir a denunciar uma circunstância dessas. Até porque mais tarde venho a saber por outras pessoas um facto que eu desconhecia, que já não tinha sido a primeira vez que tinha tentado cometer o suicídio. Simplesmente desta vez tinha conseguido.
E quão importante é a aposta na saúde mental, na prevenção? Porque nós nunca vamos poder garantir que esta ou aquela pessoa não vai cometer. Mas se nós pudermos dizer aos outros “Eu passei por uma grande queda na minha vida e consegui reerguer-me”. Não há dois dias iguais. Efetivamente, não. Mas há alguém que nos consegue ouvir. Alguém que tem tempo para nos ouvir, para nos escutar e conversar connosco. Para nos trazer à realidade. A realidade é muito dura, mas é possível. É possível sobreviver à queda.
Porque tem que é que haver espaço e falar-se sem tabus, sem preconceitos. Porque é que não há uma rede de apoio maior para se fazer uma efetiva prevenção? Muitas das vezes há pessoas que ainda dizem “Ah, mas as pessoas escondem. Então, ontem estava a rir, hoje já está morto, suicidou-se?” Pois, então podem esconder como não. Mas efetivamente devemos sempre pensar que nós somos os outros e os outros também somos nós, mas no coletivo. Uma palavra de conforto, de esperança. Estarmos atentos aos nossos amigos, às nossas redes mais próximas.
Mas é preciso falar, é preciso cada vez mais falarmos. Porque quando nós estamos a falar, se calhar, há pessoas que dizem assim: “Eu já senti isso. Eu já saí de casa às oito da manhã, dei um beijo nos meus filhos, dei um beijo na minha mulher, e fui para um penhasco e depois, de repente, alguém me telefonou e eu não dei o salto.” Eu acho que todos nós já pensámos uma vez ou outra. Outra coisa é concretizar. E, às vezes, são frações de segundos, porque todos nós temos os nossos limites.
Se eu não tivesse procurado ajuda… De início, ninguém soube. Eu tinha as minhas reticências também, mas uma coisa eu queria era não queria desistir, eu não queria morrer, eu não me queria suicidar. Eu queria viver. Aprender a viver na ausência do Bruno. Como é que eu ia fazer isso? As músicas? Como é que eu iria voltar a ouvir as nossas músicas? Como é que eu iria continuar a frequentar alguns sítios onde nós tínhamos trocado mensagens de amor, juras de amor eterno, os nossos planos? Falar disso é algo muito bom, porque caracteriza o ser humano que ele era. Do ponto de vista das surpresas que me fazia, ele surpreendia-me sempre muito, muito aventureiro, um espírito imenso. E eu falo dele com muito carinho, e com muita ternura, e, porque não, amor? Porque ninguém substitui ninguém. E mais tarde, depois, obviamente que não fechei meu coração, quando senti que estava recetiva a uma nova relação. E quando, portanto, o meu companheiro entrou na minha vida, eu contei-lhe tudo. Eu disse-lhe tudo o que é que aconteceu e que o Bruno fazia parte da minha vida, não como algo patológico, mas por alguém que eu respeito muito e por quem eu tenho e terei sempre uma grande consideração. E a melhor forma que eu encontrei de homenageá-lo foi viver a minha vida sempre respeitando, no sentido em que ele existe. E hoje, quando olho para as minhas filhas, percebo que a vida é feita, de facto, de fases e de grandes nuances, e que é tudo um processo muito dinâmico. Às vezes estamos em baixo, outras vezes estamos em cima. Mas, enquanto houver esse dinamismo, significa que nós estamos vivos e agarrados à vida.
CRÉDITOS
Nuno Viegas: Acabaste de ouvir Ainda há bocado éramos felizes, o último episódio da série Desassossego. Já te disse isto várias vezes fica mais uma: caso queiras falar com alguém, há em fumaca.pt uma lista de linhas de apoio não governamentais a que podes ligar. O SNS 24 também tem um serviço de apoio psicológico. Se estiveres em perigo imediato telefona ao 112.
Só foi possível publicar uma série assim com anos de investigação milhares de horas de escrita, edição e verificação de factos graças ao apoio das 1300 pessoas que todos os meses contribuem para o Fumaça. Junta-te a elas. Entra na Comunidade Fumaça. Ajuda-nos a lançar a próxima investigação em fumaca.pt/contribuir.
Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso que fez reportagem e a investigação da série. O Bernardo Afonso editou o episódio, compôs e interpretou a banda sonora original, fez a edição de som e sound design. É também ele que lê os excertos do Livro do Desassossego de Bernardo Soares. O Pedro Miguel Santos ficou com a revisão de texto. Eu, Nuno Viegas, fiz a verificação de factos. A Joana Batista criou a identidade visual. A Maria Almeida e o Ricardo Esteves Ribeiro, a estratégia de marketing. O Fred Rocha fez o desenvolvimento web. Todas estas pessoas participaram na construção coletiva da série. Podes encontrar em fumaca.pt a transcrição de todos os episódios, fontes, documentos e imagens relacionadas. Fazem ainda parte da equipa Fumaça: Danilo Thomaz e Luís Marquez.
Até um dia destes.