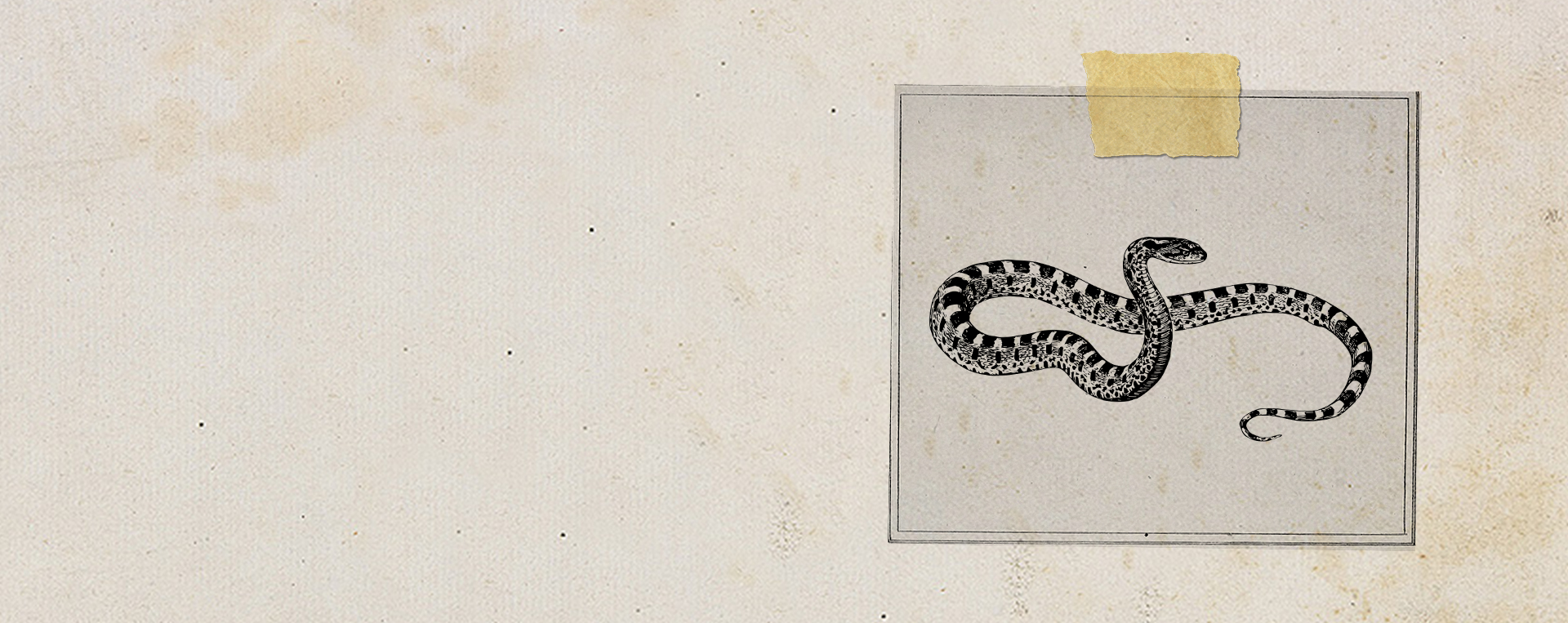
[Este episódio foi produzido para ser ouvido e não apenas lido. O que se segue abaixo é a transcrição integral de toda a peça áudio.]
I
Antes, olhava-se pela janela e o oceano era um lençol de água ao fundo. Na última década, a água vem insistindo em atravessar-se até aos beirais das casas de barro amassado, alagando os campos pelo caminho. E no meio desse mar, há uma serpente. Um bicho enorme que cospe água contra nós, disse-lhe um dos homens grandes da tabanca de Djobel, em São Domingos, setor no noroeste da Guiné-Bissau.
Issa Indjai traduz a história que me está a contar: uma “tabanca” é uma aldeia e “grandes” são os homens e mulheres que conquistaram esse estatuto com a idade.
Djobel fica a 150 quilómetros de Bissau, nas orlas do rio Cacheu. Chamam-lhe ilha, porque os meandros e afluentes a rodeiam por todos os lados. Não é bem é terra, não é bem mar, é um misto dos dois, uma zona húmida de transição cheia de mangais.
Fica abaixo do nível médio do mar, na grande zona estuarina do Cacheu, em pleno Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu, que é um dos maiores cursos de água da Guiné-Bissau. A zona é tão baixa que, quando a maré enche, entre a água, vêem-se meia dúzia de montículos de terra, cada um com duas ou três casas.
Costumava contar-se que, ali, uma enorme serpente engolia e guardava a água salgada do Atlântico, para não inundar as terras. Mas, depois, homens e mulheres tornaram-se cruéis, criminosos, pecadores. E, para seu castigo, a serpente começou a lançar de volta toda a água que engolira.
Cada vez que a serpente cospe, uma enxurrada galga o mangal – aquele ecossistema costeiro cheio de árvores com raízes que parecem sair da água, que é abundante em plantas, aves, insectos e maternidade de inúmeros peixes e crustáceos. Ele fortifica e defende “a ilha”.
Mas quando a serpente se zanga a água alaga as casas, derruba os diques de argila e os troncos ocos de palmeira que protegem os campos de arroz. Torna-os inférteis.
Ao destruir os terrenos de onde a maioria das famílias tira o que come, a serpente traz também a fome.
Issa Indjai, hoje a trabalhar junto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, contou-me esta história há uns meses. A fábula da serpente é uma forma de uma parte dos habitantes desta pequena aldeia na Guiné-Bissau fazerem sentido do que lhes está a acontecer. O nível do mar está a subir e a roubar-lhes a terra. Porquê?
Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou a Margarida David Cardoso.
II
Issa Indjai cresceu na terra do pai, Ziguinchor, a maior cidade da região de Casamança, no sudoeste do Senegal. Aos 18 anos, foi para Dakar licenciar-se em História, e o caminho mais natural seria ter-se tornado professor numa cidade grande como aquela em que viveu, em que os miúdos iam à escola e os pais tinham emprego. Mas a diferença para com a tabanca da mãe, que visitava desde pequeno, perturbava-o. Em Edgim, no norte da Guiné-Bissau, as crianças da sua idade passavam o dia debruçadas sobre campos salgados de arroz, as bolanhas. E Issa costumava dizer para si mesmo: “Tenho coisas para fazer na terra da minha mãe.”
Issa Indjai:
Nessa altura tudo faltava. Então, eu sonhava participar, ajudar este país, onde nasceu a minha mãe.
Issa pensa e fala diariamente em francês e crioulo, por isso não lhe é fácil expressar algumas destas ideias em português.
Com o curso tirado, atravessou a fronteira do Senegal para a Guiné-Bissau. Deu aulas numa tabanca próxima da da mãe durante dois anos, até, em 2006, ser convidado a integrar uma organização não-governamental. A AD – Ação para o Desenvolvimento levava, então, vários anos a trabalhar com agricultores, com projetos de combate a pobreza, escolarização e preservação ambiental. Via na linha da frente os efeitos que as secas, as inundações, a destruição dos mangais e a salinização dos solos tinham sobre as populações agrícolas no norte e sul do país. E como essas pessoas não compreendiam o que lhes estava a acontecer.
Por isso, em 1995, a ONG criou as Escolas de Verificação Ambiental, onde as crianças do 1.º ao 6.º anos aprendem a ler, a escrever, a contar e ainda a interpretar o que os rodeia: a vida selvagem, os ecossistemas, as mudanças no clima. Issa coordenou a rede de quatro destas escolas na região de Cacheu, a partir de 2008. E, à boleia dessa missão, chegou a Djobel, uma aldeia em risco de ser engolida pela água.
Issa Indjai:
Djobel é uma tabanca antiga. Como essas tabancas todas [à volta], foi povoada há muito tempo, com a chegada à zona da Guiné-Bissau das migrações bantu.
As línguas bantu ou bantas, com origem na fronteira entre a atual Nigéria e os Camarões, são faladas por cerca de 310 milhões de pessoas, em África.
Issa Indjai:
Esta população que fala mais baiote, uma língua ligada ao felupe, povoou esta zona durante a época da colonização e da escravatura.
A população de Djobel é felupe, uma etnia dominante entre as margens do rio Cacheu, na Guiné-Bissau, e a região mais oeste de Casamança, no Senegal. Em pequenas vilas familiares organizadas à volta das bolanhas de arroz, os felupes desenvolveram, ao longo de séculos, um conjunto de práticas e saberes que lhe garantiram alimento e paz. Da sua agricultura de subsistência, refém da força dos jovens e da benevolência do clima, retiram pequenos excedentes, que escoam nas trocas com familiares e aliados.
No início de 1963, a tabanca de Djobel teria mais de 1000 habitantes, conta Issa. Era, então, uma das maiores da secção de Suzana, à qual pertence o setor de São Domingos, no noroeste da Guiné-Bissau. Mas o início da guerra de libertação de Portugal, a 23 de janeiro desse ano, obrigou a maioria da população a procurar refúgio no Senegal. Mesmo quando o PAIGC – Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde declarou que a Guiné-Bissau era um país livre do colonizador, pondo fim a onze anos de conflito, uma parte dos que partiram nunca regressou.
Ninguém ficou para trás para cuidar da aldeia e esta não parecia a mesma no final da guerra. Os diques que travavam a entrada da água entupiram e o mangal tomou conta das bolanhas de arroz.
A terra deixou de dar o que comer.
Issa Indjai:
Eles tentaram de novo recuperar o que dava para recuperar. E viviam, continuavam a viver. Uma parte desta população não voltou – consciente das dificuldades que aqui estão, encontraram outras oportunidades nas localidades de refúgio.
Depois da guerra, veio a seca.
Issa Indjai:
A partir de 1976 até ao início dos anos 80, havia uma seca, uma seca geral em toda a África Ocidental. Não chovia muito, portanto isso ocasiona a salinidade das terras e isto causou um problema enorme a esta população, particularmente insular, das zonas de Djobel e outras tabancas arredores.
Os primeiros sinais de desertificação vinham desde os finais dos anos 60 quando se instalou no Sahel – a cintura entre o deserto do Saara e a região tropical da costa da Guiné – uma série de secas persistentes e severas.
Reportagem (som de arquivo):
Este é o sul do Sahel, perto das fronteiras do Mali, Senegal e Mauritânia. Uma região devastada pelas secas, que ceifou a vida a dezenas de milhares de seres humanos, causando a grande fome da década de 1970.
A falta de chuva prolongou-se até à década de 80 e devastou a produção de alimento, originando fome, migrações em massa e perda de solo arável.
Reportagem BBC News (som de arquivo):
Na Etiópia, sete milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome, milhares já morreram. A fome causada pela seca é a pior desde que há memória e agora as chuvas não caíram novamente pelo terceiro ano consecutivo.
Milhares de pessoas morreram, milhões ficaram dependentes de ajuda alimentar.
Também devido a conflitos ancestrais entre comunidades, as Nações Unidas estimam que haja cerca de 4,2 milhões de deslocados no Sahel, um dos pontos do globo mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos. E as perspetivas são ainda piores: a população continua a crescer acima da capacidade que a região tem de providenciar alimento, trabalho, condições sanitárias ou cuidados básicos de saúde.
As consequências da seca do final do século passado foram claras na Guiné-Bissau. As bolanhas salgadas de que temos estado a falar, cruciais na alimentação, organização social e económica dos felupes, são uma técnica de cultivo de arroz muito utilizada no Senegal e na Guiné-Bissau e que depende da chuva. Através de comportas, regula-se a entrada e saída de água nos campos e a chuva permite controlar a salinidade nos solos. Sem ela, as bolanhas tornam-se demasiado salgadas e inférteis.
Com a seca, associada ao abandono das terras após o início da luta armada pela libertação, deu-se uma enorme queda na produção de arroz. E a Guiné-Bissau, que até aos anos 60 se considerava auto suficiente, foi obrigada a importar para alimentar a sua população.
E, depois da seca, vieram as inundações.
Issa Indjai:
Os diques naturais, tradicionais que eles construíam para a proteção das bolanhas e das casas da tabanca não conseguiam aguentar a fúria das águas.
Muitos dos jovens de Djobel foram para as cidades procurar as novas oportunidades do país independente. Sem eles, os mais velhos não conseguiam cuidar dos diques da mesma forma.
Em 2009, da última vez que lá foram contar, havia 223 pessoas em Djobel. Uma comunidade tradicional, muito pobre. Tão pobre, diz Issa, que se anda descalço durante os meses em que chove torrencialmente e os miúdos remam mais de uma hora para chegar à escola em pirogas, embarcações feitas de troncos de árvores.
Não há água potável, esgotos ou qualquer tipo de saneamento. Não se pode fazer um poço porque, independentemente do local onde se busque, a água sai salgada. Na época das chuvas, armazena-se o que cai do céu, em grandes bidões. Quando acaba, deslocam-se mais de 30 quilómetros para se socorrerem dos poços vizinhos.
Agora, a água acaba mais cedo. A estação das chuvas na Guiné-Bissau está a começar mais tarde, a meio de junho, em vez de no início de maio, como era costume. Todos os anos, pelo menos desde 1951, chove menos, segundo dados reunidos pelo Banco Mundial. E isso nota-se, detalha ainda o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nota-se na redução dos caudais dos rios e das reservas subterrâneas, nos lagos secos e no aumento da salinização dos solos.
Ao mesmo tempo, em vinte anos, de 1992 a 2012, a população guineense cresceu quase 50%, mas a produção de cereais não cresceu na mesma medida. O que fez com que, na busca de alternativas de subsistência, haja populações a recorrer à exploração descontrolada de recursos naturais, acelerando a desflorestação. Corta-se madeira para produzir carvão e lenha, corta-se mangal para a fumagem de pescado e para construir bolanhas para o arroz. Assim avança a desertificação, num país construído em cima do mar.
Para os homens e mulheres grandes de Djobel, agora tudo parece diferente. Antes as casas eram rodeadas de plantações de arroz e havia muitas espécies de peixes. Não faltavam crianças, nem jovens.
Agora, não há madeira nem argila que segure o mar que inunda os campos, salga a terra e mata as culturas. Agora já não se cultiva arroz e toda a gente tem que pescar. As florestas de mangue não têm tempo de crescer. As chuvas são irregulares e está tudo mais quente e seco. A chamada época fria encolheu de três para dois meses e a temperatura média anual aumentou cerca de 1°.C entre 1901 e 2016, diz o Banco Mundial. Agora, até o vento parece estranho.
Issa Indjai:
Em todas as tabancas, por exemplo, quando eu pergunto porque é que estão a pensar que a água está a aumentar os homens grandes me diziam, na tabanca, que há uma serpente no meio do oceano e que engolia a água. Mas agora está a cuspir a água e é por isso que a água está a invadir as bolanhas deles. É para mostrar que eles notavam os sinais das mudanças climáticas, mas realmente não sabiam explicar porque é que havia este fenómeno. E não sabiam também que era um fenómeno geral, porque outros diziam que eram o castigo de Deus, que Deus estava a castigar os felupes.
O castigo vem de Deus. É ele que está a inundar as terras, porque os seus filhos deixaram de ser comportar como deviam, como antigamente. Vestem-se diferente; abandonaram o credo e os costumes; já não têm respeito. Foram-se até embora da tabanca.
Issa Indjai:
Para perceber isto tens que perceber os felupes. A religião deles é o ambiente deles, tudo está ligado à floresta deles, até as terras, as casas, aos poilões, aos rios, a tudo. A vida deles, o segredo deles, a religião deles tudo está ligado ao ambiente deles. Nunca se pode abandonar.
Lúcia Bayan conhece as tabancas felupe da Guiné-Bissau como a palma da sua mão. Doutoranda em Estudos Africanos do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, em Lisboa, costuma dizer que “o arroz é o corpo e a alma” dos felupes. Tal e qual como escreveu: “A primeira refeição de um recém-nascido é uma papa de arroz; a posse de arrozais e de celeiros cheios de arroz são sinónimos de riqueza e prestígio; a fixação da maior parte das tabancas dependeu da localização dos arrozais; as cerimónias religiosas exigem a oferenda de arroz e vinho de palma; os mortos são enterrados com uma provisão de arroz; as manifestações sociais e as cerimónias religiosas dependem do calendário agrícola do arroz…”
Lúcia Bayan:
Esta população não compreende, se tem o cuidado pelo ambiente, se conhecem quais são as suas vulnerabilidades, quais são os seus pontos fracos – e, apesar disso tudo, eles tentam dar a volta e contornar esses pontos fracos para se manterem. Mas eles, neste momento, sentem que todo o seu esforço já não é possível. Então eles consideram isto como um castigo. Um castigo que não merecem, porque não foram eles que fizeram.
Eu gosto muito, sempre, de relembrar um provérbio que eu aprendi em criança, porque eu nasci e cresci em África, que diz que enquanto o leão não tiver voz só vamos ouvir a história do caçador. E realmente ainda hoje só continuamos a ouvir a história do caçador. É mesmo o caçador que continua a dar os nomes às coisas e a decidir o que fazer. O caçador, hoje em dia, acaba por decidir o destino do mundo em peso. E pior do que tudo: o leão sente-se castigado sem ter nada feito.
III
É difícil dizer que todos os infortúnios por que passa Djobel são causados pelas alterações climáticas. Num país com instituições frágeis, marcado pela instabilidade e corrupção em órgãos de poder executivo e vários organismos públicos, essa monitorização praticamente não existe. À semelhança de outros países, a Guiné-Bissau também não tem mapas completos sobre a batimetria e altimetria costeiras, que é como quem diz, medições da profundidade e altitude de oceanos, lagos e rios que permitiriam perceber o que está a mudar.
Mas a vulnerabilidade do país é clara. Baixo e raso, cortado por afluentes e canais, o território guineense tem marés de grande amplitude e cresceu, ao longo de milhares de anos, graças aos sedimentos transportados pelos rios. Uma economia de subsistência colou-se à costa.
Carlos Antunes:
Num período, digamos os últimos oito mil anos em que há uma estabilização climática e que o nível do mar subiu muito ligeiramente, essas zonas de delta foram ganhando corpo, mas não ganharam altitude. Foram expandindo-se para o mar.
O engenheiro geográfico Carlos Antunes, professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador no Instituto Dom Luiz, dedica-se à compreensão da variabilidade costeira e à projeção da subida do nível médio do mar.
Carlos Antunes:
Portanto vai-se formar um plateau baixo e raso de sedimentos muito suscetível à erosão, como é o caso da Guiné, porque a Guiné não tem assim grandes temporais. Portanto, uma subida mais abrupta do nível do mar torna esses locais muito vulneráveis.
O ponto mais alto da Guiné-Bissau está 300 metros acima do nível do mar. Portanto, para as populações a subida das águas é praticamente palpável. Artigos do governo e das Nações Unidas apontam no mesmo sentido: nos últimos anos, as águas estão a subir, embora não façam quantificações.
Mas há outras ações em que a mão humana ajuda o mar a ganhar. Em 2014, uma empresa russa recebeu do governo de transição –que geriu a Guiné-Bissau após o golpe militar de 2012 –uma licença de exploração de areias pesadas nos arredores da povoação de Varela, próxima de Djobel e onde fica uma das praias mais conhecidas do país – fortemente afetada pela erosão costeira. A sociedade russa Pôto S.A.R.L. retirou das jazidas de Varela cerca de 500 mil toneladas de areia, o equivalente a mais de 367 piscinas olímpicas cheias. Entre os riscos associados à exploração, constava: a alteração do estado natural do solo, a modificação do perfil da praia e o aumento da erosão da costa. E não foi a única: já antes, uma empresa chinesa tinha extraído areias pesadas na mesma zona.
Ambas as empresas acabaram por abandonar as explorações, em divergência com as autoridades ou populações locais, deixando para trás antigas instalações industriais por desmantelar e áreas por reabilitar.
Certo é que o futuro não reservará melhoras: há quase dez anos que os relatórios do ministério do Ambiente guineense citam a possibilidade da erosão costeira reduzir a área do país em 22%: dos atuais 36.125 km² para 28.000 km² no futuro. No pior dos cenários calculado por um grupo de investigadores europeus, num estudo publicado em 2011, na revista Regional Environmental Change, caso a temperatura média em 2100 seja 4.ºC superior ao período pré-industrial, 10% da população guineense estará numa zona em risco de inundação.
Em Djobel, cenários como este deixaram há muito de ser uma previsão. A vida na tabanca tornou-se insustentável. Há histórias de professores de outras terras que se recusaram a ir dar aulas, quando abriu uma nova escola há poucos anos; de noivos e noivas de jovens da tabanca que recusam casar lá.
Em 2018, como lembram Issa e Lúcia Bayan, as chuvas foram devastadoras.
Issa Indjai:
Com esta inundação as casas feitas de lama, argila, as paredes começam a apanhar água e caem. Registou-se no decorrer destes últimos anos, desde 2015, a caída de muitas, muitas, muitas casas em plena época de chuva. Isto era o facto que levou a população que não mais vida possível na ilha.
Lúcia Bayan:
É que agora a água não entrou numa bolanha, a água não estragou uma produção anual. Não, a água está a entrar nas casas. As pessoas não podem continuar ali a viver.
Nos últimos anos, organizações locais e o governo da região de Cacheu começaram a procurar forma de realojar os habitantes.
Passaram-se anos em negociações. Porque a terra é pouca e o problema de Djobel não é único. Por fim, em 2018, houve luz verde: Arame, uma tabanca vizinha, onde, reza a tradição, viviam os dois irmãos que fundaram a aldeia de Djobel, aceitou ceder uma parcela da sua floresta.
Lúcia Bayan:
Parte das terras onde Arame quer colocar Djobel está a ser utilizada por gente de Elia, uma outra tabanca. E a gente de Elia não quer deixar essas terras. Isto envolve a propriedade das terras, que é uma coisa complicada porque a propriedade também tem a ver com a tradição, porque não há registos. E pela tradição, aquelas terras são de Arame.
Deixem-me só explicar o que ela quer dizer com isto da tradição. A sociedade felupe segue um complexo conjunto de calendários iniciáticos e cerimónias religiosas, que além de sinais de identidade, de pertença para os felupe, são uma forma de organização política e religiosa. É a partir da capital política e sagrada, intitulada de Hassuka, onde vive o líder espiritual felupe, que se tomam ou medeiam decisões para garantir a paz.
Por exemplo, quando os líderes de Arame decidiram que a população de Djobel podia mudar para as suas terras, mas teria que deixar para trás os seus santuários – os lugares de culto que nunca um felupe iria abandonar –, os mais velhos perceberam que só junto dos líderes espirituais conseguiriam resolver esta divergência entre tabancas. Ora, para muitos jovens, formados nas cidades, este modo de fazer as coisas já não tem qualquer sentido. O seu mundo é outro, diferente do dos pais, do dos avós.
Lúcia Bayan:
Os jovens não têm a calma dos mais velhos. Como nós sabemos, os jovens querem tudo muito rapidamente, querem para ontem, quanto mais para amanhã ou depois. Os jovens de Elia começaram à disputa com jovens de Arame. Foi queimada uma horta de cajú. Deu tiros, mataram pessoas, teve que entrar o exército. “Foi uma alegria…” Uma confusão muito grande. Porque o cajú é o bem-precioso da Guiné neste momento. O arroz plantado não dá para o ano inteiro. Quando acabar tem que se comprar arroz. Qual é o outro bem que se pode ir buscar? Só tem dois, naquela zona: o vinho de palma e o cajú, a venda do caju.
Durante semanas as tropas guineenses vigiaram as fronteiras entre Elia e Arame. Mas o mal estava feito. Arame ia vingar-se.
Foi o que aconteceu semanas depois, como Issa me tinha contado. A 24 de Maio de 2019, houve novos confrontos entre as tabancas.
Tudo isto deitou por terra a tentativa de arranjar um pedaço de terra para Djobel. A população voltou para a estaca zero, para o meio da água.
Issa Indjai:
Já não há bolanhas onde praticar a orizicultura. Já não há condições. Já não há casas que vão aguentar as chuvas. É uma catástrofe natural que pode acontecer a esta população.
Este episódio é apenas um dos vários que Issa poderia contar para ilustrar a dificuldade de realojar uma população num país como a Guiné-Bissau. Sabendo, ainda, que a ameaça paira sobre outras tabancas na embocadura do rio Cacheu: Eossor, Bulol, Elalab,…
Issa Indjai:
São comunidades que daqui a dez anos, no máximo, vão ser obrigadas… se nenhuma medida alternativa for feita… são comunidades condenadas a abandonar as suas terras, as suas tabancas.
IV
Habitantes do Ártico e de regiões áridas, pequenos estados insulares, alguns povos indígenas e comunidades que dependem diretamente de práticas agrícolas e de pesca tradicionais para a sua subsistência têm um risco desproporcionalmente maior de sofrerem com a crise climática. O alerta veio do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas em 2018, num relatório especial sobre os impactos do aquecimento global de 1,5.ºC acima dos níveis pré-industriais. Há mais de dez anos que, em especial pequenas ilhas no Pacífico, chamam a atenção para si próprias.
Apisai Ielemia, ex-ministro dos Negócios Estrangiros do Tuvalu (som de arquivo):
Pequenas nações insulares, particularmente atóis de baixa altitude, como Tuvalu, que estão cercados pelo mar, sempre tiveram grande esperança de que o oceano proporcionasse prosperidade e vida. Em breve, esse não será mais o caso.
Mohammed Nasheed, ex-presidente das Maldivas (som de arquivo):
Não podemos esperar. O dano das alterações climáticas é uma experiência diária nas nossas vidas.
Taneti Maamau, presidente do Kiribati (som de arquivo):
Não podemos esperar. O dano das alterações climáticas é uma experiência diária nas nossas vidas.
Afinal esta não é uma questão com que só teremos que lidar no futuro: a pobreza e as desigualdades entre ricos e pobres – entre quem tem capacidade de se proteger e adaptar e quem não a tem – já estão a aumentar à medida que o planeta aquece. Entre as 28 milhões de pessoas que foram forçadas a deixar as suas casas e migrar dentro do seu próprio país, em 2018, 16,1 milhões fizeram-no devido a desastres climáticos, a maioria por causa de tempestades e secas. Os mais pobres são os primeiros a ser obrigados a migrar. E, na cabeça deste homem, há um medo latente: que se criem enclaves, contra a vontade das populações, onde dificilmente haverá paz.
Issa Indjai:
Infelizmente ninguém está a fazer qualquer coisa. Ninguém está a pensar nestas coisas. E são pessoas, individualidades, que estão a gritar e ninguém está a ouvir os gritos delas.
Para um felupe, a ideia de abandonar, fugir da sua terra, sem intenção ou possibilidade de voltar, é uma vergonha, uma abominação, o mais próximo que existe a um desastre. Na sua língua, há uma palavra usada desde as guerras ancestrais para designar refúgio, que significa também essa ideia de fugir de casa sem poder voltar: huroi.
Issa Indjai:
É um risco enorme de perder tudo. De perder uma história, de perder a cultura, de perder a religião, de perder muitas coisas. O felupe quando abandona a terra, ele se perde mesmo. Fica uma outra pessoa.
Margarida David Cardoso:
É inevitável que esta tabanca desapareça?
Issa Indjai:
Só com esforços das pessoas, sem ajuda de ninguém, a vida é impossível nesta zona.


