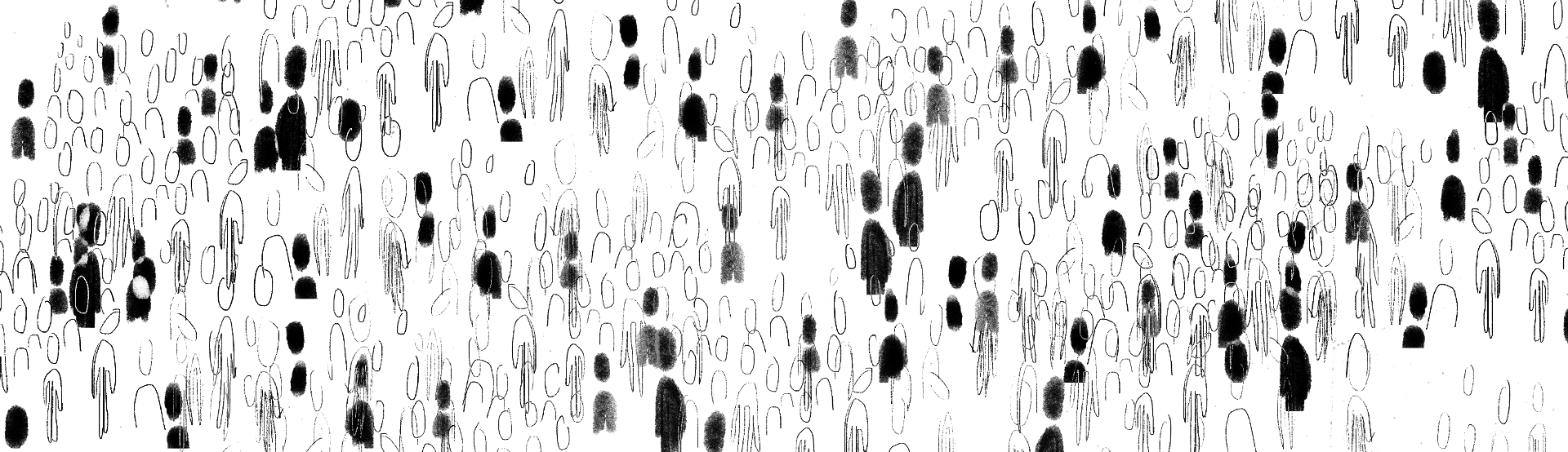
Este texto foi lançado originalmente na nossa newsletter. Se quiseres receber estas crónicas, recomendações de reportagens, podcasts e filmes no teu email, subscreve aqui.
Uma médica, assistente graduada com mais de duas décadas de experiência, que escreve depois de falarmos uma primeira vez: “Infelizmente, não posso colaborar de forma oficial, pois poderia pôr o meu trabalho em risco.”
Uma advogada que diz: “É impossível para o meu cliente contar o lado dele da história porque tem medo do que possa acontecer”.
Um enfermeiro: “Tem sido desafiante encontrar pessoas que queiram falar; algumas temem represálias (e têm razão).”
Um interno de psiquiatria: “Publicas isso com o meu nome e a minha carreira acaba.”
Ao longo da série que acabamos de publicar, Desassossego, sobre saúde e doença mental, avolumou-se a quantidade de pessoas que falava apenas na condição de anonimato. Muitas delas ajudaram a construir um sentido na história, mas as suas palavras nunca são reproduzidas. Em alguns momentos, ouves poucos nomes, poucas vozes.
“Proteja-nos.”
Demoramos muito a compreender o mecanismo que podia levar um profissional de saúde a um estado de desamparo que sempre me pareceu exagerado. Não há nenhuma bomba mediática. Há acusações de precárias condições de trabalho e de tratamento – classificadas algumas como más, incorretas, indesejáveis, embora quase todas dentro da legalidade. Mas até para falar de coisas que nos pareciam relativamente inócuas, como os tempos de consulta internamente instituídos num hospital, surgiram hesitações e dificuldades.
“Proteja-nos” foi um pedido repetido por uma médica perto da reforma. Alguém que acha ter “menos a perder” do que outros colegas, mas ainda algo considerável para falar em surdina. Aconteceu outra vez, com alguém em igual estágio na carreira. Depois de uma longa primeira chamada em que se disponibilizou para falarmos à vontade, escreveu-me de volta: “Poderia pôr o meu trabalho em risco.”
Muitas vezes, só quando desligamos o microfone algo sem filtro começava a sair. É tão fina a linha da confiança que tanto vem, como vai. Quando se olhava para contratos de médicos internos ou recém-especialistas, a cláusula de sigilo assustava alguns de tão vaga tudo parece caber lá dentro.
“Um médico, se assiste a má prática, tem o dever de agir. Mas acho que há pessoas que se retraem de denunciar, sim, infelizmente”, diz a oncologista Joana Bordalo e Sá, que, à data destas palavras, era dirigente sindical – é agora presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM). Também “a maior parte dos enfermeiros, quando tem no seu contrato uma cláusula de confidencialidade, acha que está impedida de falar de tudo o que se passa dentro da sua instituição”, concorda Lúcia Leite, presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE). O que Lúcia lhes explica é que esta cláusula tem a ver com o desenvolvimento de novas técnicas e outro tipo de inovação que a empresa tem o direito de manter sob reserva. Outra coisa é o sigilo profissional, norteado pelo código deontológico. E outra coisa ainda é a obrigação de denúncia de todas as situações que ponham em risco a segurança de doentes. “Denunciar é um dever que não pode ser coarctado por nenhuma cláusula que conste de um contrato de trabalho.”
A confusão ou incerteza serão emanadas do medo, dizem ambas. Medo que vem do desconhecimento do enquadramento legal dos seus direitos, limites e deveres. Medo que se alimenta no receio de represálias – nas avaliações, na escolha de turnos, na atribuição de férias, na mudança para serviços ou horários que ninguém quer, os do “castigo”. Medo da perda de estatuto. Uma psiquiatra dizia-nos: “Tenho vergonha de que as pessoas saibam que isto é assim no sítio onde eu trabalho.” E é também o medo de ser posta de parte, de ficar a falar sozinha, ou de entrar no solitário terreno da incompreensão. Susana Pinto Almeida, psiquiatra, vê enquanto especialista forense vários casos de assédio moral de quem se tornou um “problema” por ser “a reinvidicativa”.
Uma enfermeira, que recuou na intenção de falar publicamente, pediu ajuda ao sindicato e à Ordem dos Enfermeiros para se munir de argumentos jurídicos. Não tinha apresentado queixa sobre o caso grave que queria denunciar e essa era a primeira pergunta das entidades: “Apresentou queixa?”, “Não”, “Então, não há muito que possamos fazer”. Ela diz que é preciso perceber o contexto em que se pede às pessoas para apresentar queixa. Sentia-se encurralada entre uma ética e deontologia que a impelia a falar e o confronto com chefias nas quais já não caia em boas graças. “É preciso perceber o contexto de onde vimos para nos calarmos.”


