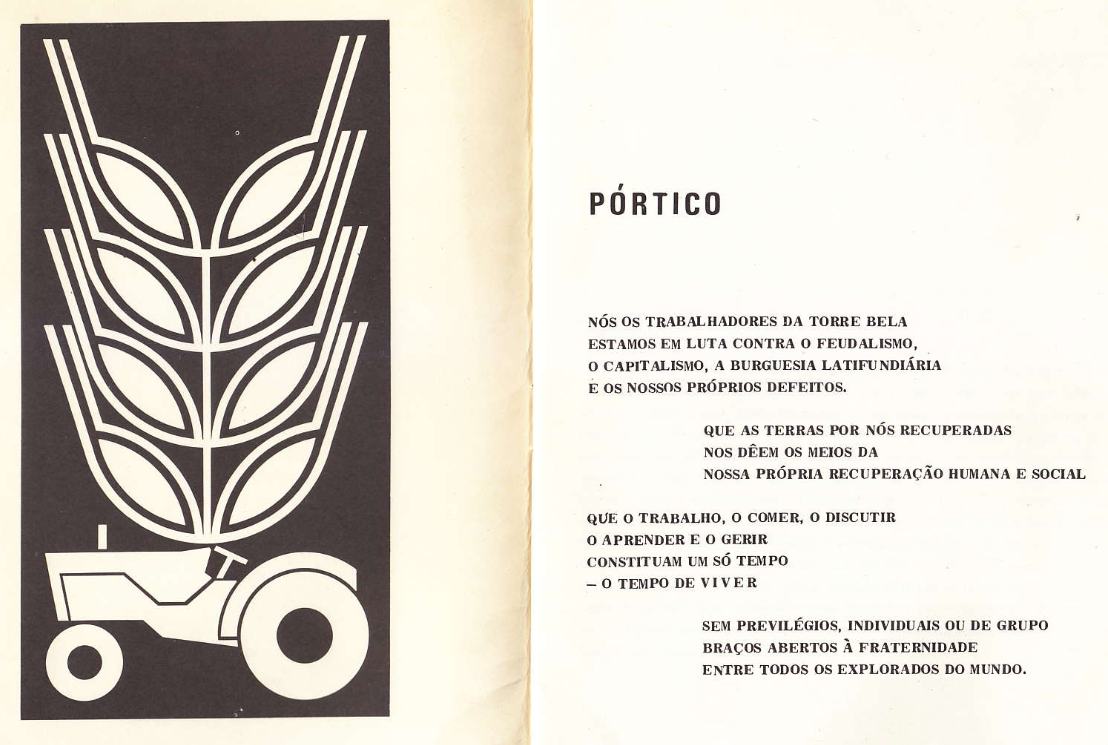A 25 de Abril de 1974, morreram cinco portugueses – quatro civis e um funcionário da PIDE/DGS – na rua António Maria Cardoso, em Lisboa. No entanto, durante 45 anos, pouco se soube sobre quem eram estes mortos, além dos nomes. Fernando Carvalho Giesteira, 17 anos, foi uma das vítimas da “Revolução sem sangue”.
O Fumaça publica abaixo o segundo capítulo da investigação “Esquecidos em Abril” (ed. Livros Horizonte), de Fábio Monteiro, que chegou às livrarias na semana passada. Aqui podes ouvir a entrevista com o autor.
1
A princípio, Ana Carvalho Giesteira, de 66 anos, não queria falar.
Não que pensasse que era irrelevante preservar a memória do irmão, muito pelo contrário. Acontece que a morte de Fernando Carvalho Giesteira, aos 17 anos, no dia 25 de abril de 1974, coseu-se, entrelaçou-se com a biografia dela de forma íntima e dolorosa. De certo modo, determinou-a.
Falar do irmão hoje é falar de si no passado, uma geografia espinhosa. Cinco minutos depois de atender o telefone, num primeiro contacto, Ana está a chorar.
Falar do irmão hoje é falar de si no passado, uma geografia espinhosa. Cinco minutos depois de atender o telefone, num primeiro contacto, Ana está a chorar.
2
(15 de março de 1974*)
Grávida de oito meses, assustada e sozinha em Lisboa. Ana Giesteira tem 20 anos e Albano, que só tem mais um ano do que Fernando, é um bon vivant: ainda não está mentalizado de que em breve terá de assumir o papel de pai, “fazer-se homem”. Naquele momento, o casal está separado.
Ana não sabe, mas faltam 15 dias para dar à luz Paulo, o seu primeiro filho. Não imagina que o parto será complicado, nem que o rebento irá nascer com mais de quatro quilos, “um matulão”, o que a deixará com muitas mazelas. Tantas que a sua médica recomendará, mais tarde, que não acompanhe o corpo do irmão até Vreia de Jales, para ser enterrado. O parto podia “subir-lhe à cabeça”, alertá-la-á a médica, usando uma expressão de uso comum para descrever aquilo que hoje conhecemos por depressão pós-parto.

Apesar de morarem na mesma cidade, os dois irmãos vivem desfasados: Fernando trabalha à noite, dorme numa pensão; Ana é doméstica, mora num quarto alugado, fica difícil fazerem planos juntos. Naquela noite, porém, arranjam tempo para irem jantar fora. Encontram-se na Alameda Afonso Henriques. Fernando surge resplandecente, “um miúdo feliz e encantado com Lisboa”. Entram num restaurante.
– Estás muito bonito! – diz Ana, logo ao início da conversa. – Continua assim – recomenda.
(…)
– Estou a juntar dinheiro para mandar aos pais… – conta-lhe Fernando. – Não, tu primeiro tratas da tua vida. A mãe e o pai lá se orientam. Eles estão bem – diz Ana, zelando pela independência financeira do irmão.
– Mas…
– Preocupa-te contigo – frisa Ana.
(…)
– Tenho uma namorada – revela Fernando, de surpresa, a meio do jantar.
– Ah, sim? – pergunta a irmã, curiosa, mas sem insistir para que este lhe revele mais pormenores. – Sim.
Fernando não irá revelar o nome, nem a rapariga será alguma vez apresentada à família. Pouco mais de um mês depois, Ana verá uma “rapariga loira” também a chorar Fernando, na morgue do Hospital de S. José. Não lhe ocorrerá perguntar quem é. No momento do luto, os olhos fica- ram enterrados no corpo do irmão. Aqueles que giravam à sua volta eram sombras sem rosto. Ainda na morgue, a “rapariga loira” aproximar-se-á de Ana, tocando-lhe num ombro para transmitir os seus sentimentos sem os verbalizar. Anos mais tarde, Ana descobrirá, por via de conheci- dos do irmão em Lisboa, que se tratava da namorada de Fernando e que também ela servia à mesa na Cova da Onça.
(…)
– Mas onde é que está o pai do teu filho? – pergunta Fernando, já perto do final do jantar. É impossível a Ana esconder o “barrigão” que transporta. – Estamos separados… – confessa, um pouco a contragosto. – Mas há um pai? – insiste o irmão.
– Há, sim.
– Então, como é que ele se chama?
– Albano Ribeiro.
– Está bem. E onde trabalha?
– Para que queres saber?
– Para nada. Queria só saber alguma coisa sobre o pai do meu futuro sobrinho…
– Trabalha na Clínica da Televisão, na Avenida São João de Deus – acaba por contar Ana.
(…)
– Então, como é que ele se chama?
– Albano Ribeiro.
– Está bem. E onde trabalha?
– Para que queres saber?
– Para nada. Queria só saber alguma coisa sobre o pai do meu futuro sobrinho…
– Trabalha na Clínica da Televisão, na Avenida São João de Deus – acaba por contar Ana.
(…)
Ao saírem do restaurante os irmãos despedem-se, rumam por caminhos diferentes. Ana não tem como adivinhar, mas é última vez que vai ver o irmão com vida. Fernando nunca chegou a conhecer o sobrinho Paulo, nascido a 31 de março.
* Esta data é uma estimativa. Ana não consegue precisar o dia, além de dizer que foi “quinze dias antes de o filho nascer”.
3
Fernando Carvalho Giesteira vivia em Lisboa há quase dois anos quando se deu o 25 de Abril.
Apesar de ainda ser pouco mais do que um adolescente, nos parâmetros atuais, Fernando morava já então sozinho num quarto da Pensão Flor, situada no n.º 12 da Praça João do Rio, no Areeiro, espaço de dormidas que ainda hoje está aberto. Há 45 anos, contudo, a clientela era muito diferente: a pequena pensão recebia portugueses deslocados da sua terra natal para trabalharem na capital, oferecendo um regime de comida e roupa lavada, enquanto hoje acolhe turistas com grandes malas e monstruosas máquinas fotográficas.
Segundo a família, Fernando havia sido trazido de Vreia de Jales, freguesia de Vila Pouca de Aguiar, para Lisboa por intermédio de “um conhecido de um amigo”, cujo nome já não é recordado, para trabalhar como empregado de mesa numa das boîtes mais famosas da época, a Cova da Onça, estabelecimento situado na porta 224b na Avenida da Liberdade. Eram os patrões de Fernando que lhe pagavam a “renda”, apesar de o jovem não ter contrato de trabalho. Fernando “recebia por baixo da mesa”; na tipologia laboral dos nossos dias, era um trabalhador precário.
Vreia de Jales era, nos anos 1960, uma terra pequena, local de residência quase exclusivo de mineiros e respetivas famílias, com cerca de três mil habitantes. Um ermo pobre e isolado, com poucas condições, quando comparado com a terra natal de Fernando e Ana Giesteira: Salto, em Montalegre. Amândio, o pai, trabalhara durante muitos anos nas minas da Borralha, mas depois de um susto, um possível diagnóstico de “doença da silicose”, agarrou na família e mudou de região.
Dos tempos em que morava com o irmão, ainda ao abrigo dos pais, Ana recorda como, chegados a casa da escola, se refastelavam a comer “o pingo dos rojões”, banha com pão, uma iguaria naqueles tempos – certamente desaprovada por nutricionistas em 2019.
Por alguma razão peculiar, muitos dos artigos datados de 1974 sobre Fernando Carvalho Giesteira identificam-no como “empregado de escritório”, função que não podia ocupar, pois apenas estudara até ao segundo ano do liceu (atual sexta classe). Daí em diante, esse desacerto foi perpetuado um sem-número de vezes. Só em 1999, um artigo do Público, a propósito do 25.º aniversário de Abril, desfez este engano. Porém, em 2015, o jornal i ainda batia na mesma tecla e, mais do que isso, dava largas à imaginação. “Fernando Gesteiro, o mais novo de todos, transmontano empregado num escritório, rapaz que, acabada a festa da maioridade, gozava da proteção do forte núcleo de Montalegre, terra de gente que se jura íntegra e corajosa”, escreveu o jornalista Luís Osório.
Será que a Cova da Onça era um espaço demasiado pecaminoso, num Portugal passado, a ponto de ser censurado nas páginas de jornais? Na verdade, é pouco provável que a falha em causa tenha sido propositada, já que muitos dos artigos da época, a propósito da morte dos seis olvidados, estão pejados de erros. A grande maioria transfigurou o nome a Fernando Carvalho Giesteira, numa espécie de jogo do telefone estragado.
“Fernando Armando Gesteira.”
“Francisco Carvalho Gesteira.”
“Armando Vieira Gesteira.”
“Fernando Castro Giesteira.”
Os vários lapsos no registo do nome de Fernando induziram, mais tarde, outros em erro. Quando em 1980 foi afixada a já famosa placa de homenagem aos mortos do 25 de Abril, na Rua António Maria Cardoso, Fernando apareceu identificado como “Francisco C. Gesteira”. Após a placa ter sido roubada e substituída pela Câmara de Lisboa, o nome foi corrigido para “Fernando C. Gesteira”. Para que fique claro: o apelido de Fernando é Giesteira.
Nos anos 1970, a Cova da Onça era explorada por três irmãos naturais de Trás-os-Montes, o que explica, pelo menos em parte, o motivo de recrutarem mão de obra tão longe da capital.
Graças ao emprego, Fernando evadiu-se com 15 anos àquela que até então parecia ser a sua sina, a passagem hereditária do ofício de mineiro do pai para o filho – um destino cruel, aos olhos da irmã, que sempre batalhou dentro de casa para que o irmão tivesse “outras oportunidades”.
– Nunca queiras ir para as minas, tu tenta melhor – dizia-lhe Ana. Ignorando as recomendações da irmã, Fernando desistiu de estudar aos 13 anos e acabou por acompanhar a mãe no trabalho nas lameiras.
Os pais de Fernando, Amândio Gomes Giesteira e Emília de Carvalho, um casal conservador e religioso, em nada diferentes de muitos daquele período e região, sabiam que o filho trabalhava em Lisboa num bar, que estava perto da irmã, apesar de não se encontrar ao cuidado ou a viver com ela, mas nunca tiveram noção de que tipo de bar era a Cova da Onça, por quem era frequentado ou o que lá dentro se passava.
Se soubessem que a Cova da Onça, estabelecimento noturno burlesco frequentado pela elite militar da época, ao jantar até funcionava como restaurante de luxo, mas a partir das 10 horas da noite servia de espaço de prostituição e acolhia proxenetas, era plausível que se opusessem àquele emprego.
Os pais de Fernando contentavam-se com a notícia de que o filho tinha um salário, vivia de noite e dormia de dia, devido às funções que desempenhava, e que estava satisfeito – no fundo, a informação essencial para sossegar as preocupações familiares, tanto há 50 anos como hoje.
Ana nunca visitou o irmão no seu local de trabalho. Albano foi lá uma vez à procura do jovem, mas não o encontrou. “Não era qualquer borra-botas que lá entrava. Era um sítio caro”, recorda o cunhado.
Passados 45 anos, da boîte de luxo Cova da Onça, na Avenida da Liberdade, só resta o velho emblema da casa, cunhado na calçada portuguesa, em frente da porta. O que lá dentro se passava, nos anos que antecederam o golpe de Estado, poucos lembram ou relatam.
Ao mudar-se para Lisboa em 1972, Fernando descobriu um tipo de liberdade que até então lhe fora vedada, garante a irmã. O jovem Giesteira caiu sob o encanto da vida noturna da capital, repleta de charme e galanteio, experiências que nunca havia tido em Vreia de Jales. Ana rumara à capital, alguns anos antes, para trabalhar como doméstica.
Impulsionado pelo trabalho, Fernando Giesteira passou a aprimorar a forma de vestir. O miúdo de 15 anos, que antes só tinha a preocupação de arranjar tempo para jogar à bola, disfarçou-se de homem com camisa e gravata, primeiro para servir à mesa, mais tarde por brio. Dos seus anos em Lisboa sobrevive na família um único retrato.
O rosto ainda redondo, liso, sem barba, de Fernando, denuncia a sua idade, fá-lo parecer afável, quase menino. O nó um pouco lasso da gravata transmite, ao mesmo tempo, uma sensação de descontração, de alguém que não se leva demasiado a sério e que sabe divertir-se. “Tinha um ar cativante. Era um jovem bem-parecido, limpo, nada andrajoso”, garante Albano.
4
(26 de abril de 1974)
A revolução foi ontem, mas Ana não saiu à rua. Mesmo que quisesse, não podia. Há quase um mês que está de cama, às custas de um parto complicado. “Rasguei-me toda, levei vinte e tal pontos.” Naquele momento, como é óbvio, a recém-mãe tem as prioridades pessoais à frente das contendas nacionais. Preferências políticas, na época, tinha poucas, ao contrário do pai do filho. Albano esteve no dia anterior na Baixa de Lisboa, tal como centenas de populares, a assistir à queda de Marcelo Caetano. No futuro chegará mesmo a ocupar cargos políticos em algumas das juntas de freguesia da capital, em representação do Partido Comunista.
A senhoria de Ana bate à porta, vem entregar um telegrama. “Se quiseres vir ao funeral do teu irmão, anda para casa. Mataram o teu irmão”, lê. A mensagem é dos pais, que continuam a morar em Vreia de Jales. A notícia da morte de Fernando chegou primeiro a Trás-os-Montes do que à casa de Ana, em Lisboa.
Atordoada pela mensagem, Ana passa o filho para o colo da senhoria. De braços livres, solta um grito visceral. O medo apodera-se dela. Por instinto, corre ao telefone e marca o número de Albano.
– Mataram o meu irmão. Preciso de ti – diz-lhe.
No momento decisivo, Albano não hesita e põe-se ao lado da mãe do filho. Pede emprestado um fato para ir ao funeral na aldeia, vai conhecer os sogros, quando estes nem sabem que tiveram um neto.
Ana nada tinha contado aos pais. Para todos os efeitos, estava solteira.
Depois da notícia da morte de Fernando, o leite nos peitos de Ana some-se, seca. Durante os primeiros meses de vida, Paulo será alimentado exclusivamente à base de leite em pó.
5
A História é seletiva, tem interesses e raramente recorda aqueles que não se importam com o seu curso.
Fernando Giesteira, à imagem de João Arruda, outro dos mortos do 25 de Abril, era muito jovem quando morreu. Todavia, a sua biografia nunca foi resgatada como símbolo de Abril, ao contrário do que aconteceu com o jovem açoriano. A família Giesteira não teve meios nem vontade para manter viva a memória pública do filho perdido. “Eles não queriam nada do Estado, só queriam o filho”, garante Ana Giesteira. Fernando, por sua vez, vivia desligado de questões políticas ou sociais. Prova disso foi a forma como ignorou um conselho de Albano, já na época ligado ao PCP, para se sindicalizar. “Não tinha tendências políticas”, lembra.
Sobreviver na memória coletiva não é uma competição, mas há condições para que tal aconteça. Entrar no discurso da política é uma delas. “Esqueceu-se esta gente [os seis mortos da revolução] devido a tudo o que estava a acontecer, ao mesmo tempo, no país. Em circunstâncias normais, num Estado de direito, as famílias teriam sido indemnizadas”, diz Albano, opinião também subscrita por Ana Giesteira.
Após a morte do irmão, Ana tentou falar com os pais sobre o sucedido, explicar-lhes o quão escroque havia sido Salazar e desmascarar uma “barbaridade” dita pelo padre de Vreia de Jales no elogio fúnebre de Fernando.
Três dias depois do 25 de Abril, e apesar das muitas notícias que circulavam nos jornais sobre os disparos na Rua António Maria Cardoso, o padre da aldeia não teve qualquer pudor em afirmar:
“Foram os comunistas que mataram o Fernando Giesteira.”
Se Ana e Albano reconheceram aquelas palavras como uma mentira, os pais de Fernando, pessoas simples, “sem cultura política alguma”, engoliram-nas como quem toma a hóstia, verdade máxima. “Tudo o que o padre dizia era certo para o meu pai e para a minha mãe”, lembra a filha.
A religião, em boa verdade, é uma questão delicada para Ana Giesteira: a irmã de Fernando identifica-se como católica não-praticante, mas guarda uma certa distância das ditas instituições católicas. Durante a infância e a adolescência, Ana foi tão “massacrada com a religião”, muito arreigada nos seus pais, que acabou por lhe desenvolver uma repulsa. Prova disso é nunca ter casado pela Igreja, só no Registo Civil. Os dois filhos de Ana e Albano não são batizados, algo comum em 2019, mas sem dúvida uma escolha vanguardista há 45 anos.
Em casa, os pais de Fernando nunca falaram sobre a morte do filho; refugiaram-se nas tarefas comezinhas do dia a dia para esquecerem a dor.
– Mataram o meu filho, agora deviam-no comer – afirmaria um dia o pai.
Cerca de um ano depois do 25 de Abril, Ana foi passar alguns meses a Vreia de Jales, uma vez que Albano estava desempregado e o casal vivia um momento de sufoco financeiro e tinha acabado de ter um segundo filho. Por diversas vezes, durante esta estada, Ana tentou puxar “a conversa.” Um dia apanhou a mãe a jeito e convidou-a para se sentar no alpendre da casa.
– Salazar nunca prestou, nunca prestou, mãe. O Salazar é que fez esta miséria. Nós temos um país cinzento, cheio de fome. Calhou-nos a nós, mas podia ter havido muito mais sangue – disse Ana.
– Não fales nisso! – gritou a mãe.
Os pais de Fernando Giesteira não eram mais tacanhos do que a maioria da população do país quando perderam o filho.
Narra-se o 25 de Abril com superficialidade, esquecendo as contradições próprias do processo revolucionário, como se, às 19 horas do dia inaugural, no minuto em que Marcelo Caetano abanou o Quartel do Carmo, o país inteiro se tivesse convertido, batizado por uma qualquer entidade superior, aos ideais democráticos e ao Estado de direito. Uma mentira descabida, ideológica.
Canta-se o golpe de Estado como um mito, distante do que realmente foi: um fenómeno complexo, um novelo de narrativas e vontades emaranhadas.
O Movimento das Forças Armadas, na preparação para as eleições de 1975, com receio de que representantes do antigo regime fossem novamente eleitos, viu-se obrigado a efetuar “Campanhas de Dinamização Cultural e Ação Cívica” no terreno, sobretudo no interior do país, região tradicionalmente mais conservadora.
“Durante mais de um ano, um grupo de militares ligados à 5.a Divisão do MFA, o órgão responsável pelas ações de comunicação do MFA, dividiu o país em distritos militares e mobilizou centenas de meios humanos e materiais para um conjunto de operações um pouco por todo o território nacional.
Estas campanhas iriam contribuir para resolver o atraso cultural do país, mas também para passar uma mensagem antifascista e desafiar ideias políticas dominantes, procurando aproximar a população do conteúdo ideológico do programa político do MFA”, conta a investigadora Filipa Raimundo, no ensaio Ditadura e Democracia (ed. Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2018).
Enquanto PCP e PS tentavam arregimentar votos e arrecadar louros pelo golpe de Estado bem-sucedido, incrustando na História as suas narrativas da revolução, o MFA fazia por assegurar que o país não recuava ao passado por iniciativa própria.
“A elite política do Estado Novo – que escapou desde o início às medidas de caráter criminal – viu os seus direitos políticos serem limitados através de uma lei que os impedia de votar ou de serem eleitos nas primeiras eleições livres e justas [de 1975]”, lê-se no mesmo livro.
Fica no ar uma questão controversa: após o 25 de Abril, foi a população portuguesa que se revelou democrata ou houve apenas o desaparecimento de uma determinada representação política?
No Portugal de 2019 não existe na Assembleia da República qualquer partido de extrema-direita, com tendências nacionalistas claras, por oposição ao que acontece um pouco por toda a Europa. Mas uma sondagem da Aximage, realizada em dezembro de 2018, deixou uma frincha aberta: 27% dos portugueses inquiridos admitiram mudar o seu voto para partidos com agendas “anti-imigração e corrupção”, caso aparecessem.
6
(28 de abril de 1974)
Ana e Albano estão sentados de lado na bagageira de uma carrinha funerária, entulhados entre coroas e ramos de flores, de frente para o caixão selado onde jaz Fernando, que segue até à Vreia de Jales para ser enterrado. Na dianteira do veículo vão três homens, condutor e dois cangalheiros, à conversa; por vezes riem. O morto das traseiras é mais um entre muitos. Paulo, o filho do casal nascido há menos de um mês, ficou aos cuidados de uma irmã de Albano, já que os pais de Ana ainda não sabem que são avós.
A viagem entre Lisboa e Vreia de Jales demora cerca de oito horas, devido ao mau estado das estradas e aos caminhos de terra que têm de atravessar; seguem numa espécie de cortejo país acima, já que numa outra carrinha funerária, metros atrás, vem o corpo de António Lage com destino ao cemitério de Loivos, em Chaves.
De tão pobres que eram, os pais de Fernando não tiveram dinheiro para pagar o funeral, nem o transporte do corpo; foram os patrões, os donos da Cova da Onça, que se disponibilizaram a arcar com as despesas.
O dia seguinte será doloroso. No enterro, a mãe de Fernando tentará entrar para a cova com o filho, atirar-se para o buraco cavado no chão do cemitério; só o marido conseguirá impedi-la.
Desde a morte de Fernando, Albano tem acompanhado Ana para todo o lado mas ainda não teve oportunidade de lhe contar uma coisa: dias antes de morrer, Fernando foi procurá-lo à Clínica da Televisão. Queria conhecer o pai do futuro sobrinho e chamá-lo à atenção para a situação da irmã. Os dois rapazes – um com 17 e o outro com 19 anos – deram-se bem. “Era um rapaz cativante”, por isso Albano não se sentiu intimidado.
Naquele encontro falaram sobre várias coisas. Deu até para Albano alertar Fernando para a situação laboral instável. Porém, foram outras as palavras que ficaram na memória.
– Então, o que é que o meu irmão te disse? – pergunta Ana, ao saber deste encontro a caminho do funeral de Fernando.
– Ó Albano, não deixes a minha irmã.
*
“De certo modo, é o Fernando que nos junta. Antes do 25 de Abril estávamos separados. Mas, naquele dia, enquanto estávamos na bagageira da carrinha funerária, conversámos e entendemo-nos”, diz Albano, sentado ao lado de Ana. Compenetrado, não repara que Ana sorri ao olhar para um artigo de um jornal antigo com a foto do irmão.
7
No dia 25 de abril de 1974, Fernando Carvalho Giesteira desceu a Avenida da Liberdade, em direção à Baixa, longe de imaginar que esse gesto, descer uma rua, aquela rua, viria a ser uma das futuras tradições para assinalar o dia de fronteira que estava a acontecer.
Teria sido a sua noite de trabalho abalada pelas notícias da revolução? A Cova da Onça teria fechado portas por causa do que estava a acontecer? Ou apercebera-se das Chaimite que circulavam pela capital ao sair do microcosmo onde trabalhava?
Ana e Albano não sabem responder a estas questões, nem guar- daram contactos de amigos ou colegas dessa época, alguém que possa preencher este vazio.
A família Giesteira sabe que, naquela manhã, Fernando saiu da Cova da Onça e não regressou à Pensão Flor. Meteu-se no meio da multidão que acorria ao Quartel do Carmo, um no meio de uma manada de curiosos espectadores da revolução. “Foi de uma inge- nuidade tão grande…! Muitas pessoas das que estavam ali não tinham consciência do que se estava a passar”, lembra Albano. Fer- nando dissolveu-se na paisagem da História, até que as balas cegas, vindas da varanda da sede da PIDE/DGS, o singularizaram, na Rua António Maria Cardoso. E logo ali morreu.
Fernando Giesteira, de 17 anos, faleceu devido a uma “laceração do encéfalo por projétil de arma de fogo”, de acordo com o assento de óbito. “Foi uma dor muito profunda, que continuo a ter num cantinho do coração. Só que o 25 de Abril podia, da forma como foi planeado, ter tido muito mais sangue. Para mal dos meus pecados, calhou-me a mim. Mesmo assim, digo: abençoado 25 de Abril”, diz Ana Giesteira.

Erros na História
O erro, devido à urgência dos acontecimentos, é condição intrínseca do jornalismo. Se isto é verdade no dia a dia, as notícias escritas em períodos extraordinários, como o 25 de Abril em 1974, tornam ainda mais evidente a falibilidade e as limitações daqueles que as escrevem. Nas dezenas de notícias de época que falam dos mortos da revolução, há diferentes tipos de equívocos – nos assentos dos nomes, profissões, idades e naturalidade –, alguns dos quais elencados nas biografias dos Esquecidos em Abril. Tudo isto é desculpável e compreensível, tendo em conta as circunstâncias que Portugal vivia. Todavia, esta série de imprecisões faz emergir outra questão mais complexa: como é que se escreve a História, quando não se sabe em que fonte confiar?
Na dita era das fake news (notícias falsas), este dilema tem particular relevância.
Não fossem as famílias dos mortos a retificarem muitas das incorreções e a investigação de Esquecidos em Abril tivesse sido feita apenas com base em artigos de época, o livro Esquecidos em Abril seria um palimpsesto de erros e mal-entendidos. A memória dos seis olvidados do 25 de Abril tomaria a forma de um registo ficcional, uma novela ideológica.
Até os jornalistas de crivo mais apertado erram. Em Quando Portugal Ardeu (ed. Círculo de Leitores, 2017), o jornalista Miguel Carvalho falha no nome de Fernando Carvalho Giesteira e inclui António Lage na lista de mortos pela PIDE/DGS, quando este era funcionário da polícia política. Nem mesmo os historiadores mais experientes escapam de reproduzir pequenos erros derivados dos jornais. Em conversa, a historiadora Irene Flunser Pimentel, autora de vários livros canónicos sobre a história do Estado Novo, revela que, no passado, já foi “chamada a atenção por conhecidos e amigos para enganos nos nomes dos mortos”.
Quantos factos históricos registados de forma incorreta (não propositadamente), só da História de Portugal, serão ensinados nas escolas? Esta questão não é um sacrilégio, um ataque ao passado. É, somente, um recuperar de consciência das fronteiras da História, das pequenas deturpações que se podem infiltrar numa narrativa.
Há valor na incerteza.
Os jornalistas não escrevem a História, apesar de o trabalho de um repórter de conflito, por exemplo, passar por presenciá-la e relatá-la. No entanto, só aqueles que ignoram a sua posição no tecido epistemológico é que não se aperceberão de que o seu trabalho serve de base aos tecelões maiores, os historiadores.
Desde o século XVI, muita da historiografia nacional (e mundial) pode ter sido (e é) feita com base em publicações periódicas. Há quem diga que as fake news, expressão que o atual presidente norte-americano, Donald Trump, ajudou a tornar famosa, brotaram ao mesmo tempo que a imprensa nasceu, mas que então tinham outras feições. Por fake news entenda-se dois tipos de fenómenos: notícias com informação descontextualizada, de forma a beneficiar alguém, e relatos ficcionais.
Sempre existiram notícias falsas e os anos do Estado Novo não foram um período parco neste fenómeno. Em todo o caso, esta forma de desinformação não tinha a mesma face da dos dias de hoje, quando uma notícia se torna viral nas redes sociais e influencia a opinião de muitos cidadãos, ficando depois disponível ad aeternum para enganar outros tantos.
Antes do 25 de Abril existiam órgãos de comunicação afetos ao regime, como o jornal A Época. É por isso que nenhum historiador português irá até à hemeroteca procurar notícias naquele diário para apurar a narrativa do 25 de Abril. No máximo, as notícias d’A Época serão usadas como objeto de análise da propaganda. No futuro, todavia, muita da historiografia deixará de ser feita em hemerotecas.
Graças à vida digital que as notícias passaram a ter, nada de relevante entre os acontecimentos mundiais dos últimos 20 anos ficou fora do registo do universo online. Os jornais têm estado, ao mesmo tempo, a digitalizar os seus arquivos. A promessa de toda a informação disponível à distância de alguns cliques, ainda assim, criou novas ratoeiras. É aqui que se infiltram as perversas fake news.
Do mesmo modo como no passado foi feito um inventário dos jornais ligados ao Estado Novo, no futuro será necessário fazer uma seleção – porventura criar-se um sistema que ateste a validade – de algumas notícias na internet. Caso contrário, há o risco de dentro de 100 anos um historiador distraído tropeçar numa notícia falsa, perdida no cosmos digital, e apontar que Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda em 2018, usava um relógio avaliado em 21 milhões de euros.
Sempre que um jornalista cita Manuel António Pina e refere que “amanhã, isto [o jornal] é para embrulhar o peixe”, a imprensa perde leitores. E os jornalistas são grandes citadores. Aqueles que vivem dentro das redações, que comandam o leme do futuro do jornalismo, ainda não se aperceberam: a internet criou a imortalidade noticiosa.
Se peças como as do Público e do Tal&Qual, que vão ser referidas na história de José Barneto, outro dos mortos do 25 de Abril, tivessem sido publicadas no advento do digital, muitos dos artigos difundidos nos últimos 20 anos seriam mais completos e corretos na abordagem à biografia das vítimas. Quem quisesse saber dos mortos no 25 de Abril não seria obrigado a procurar a hemeroteca mais próxima, bastaria tirar o telemóvel do bolso.
Na disputa pelos cliques, porém, notícias só por si perecíveis foram transformadas em podres à nascença. Os jornais ainda não assumiram que o digital, a noosfera do espírito sonhada por Teilhard de Chardin, equivale a imortal. As fake news já.